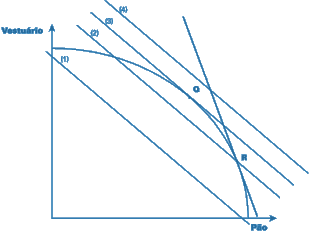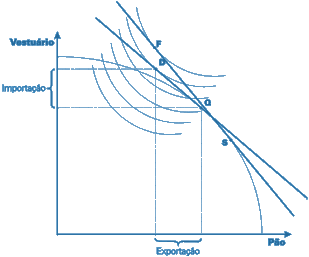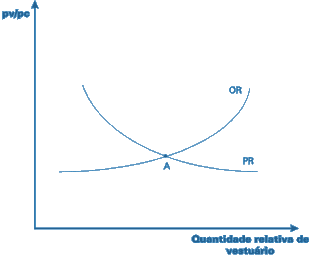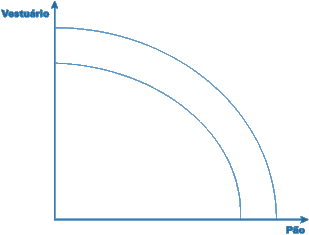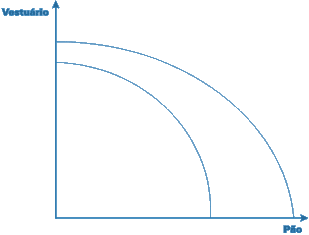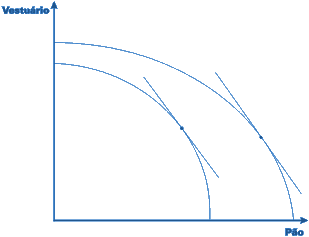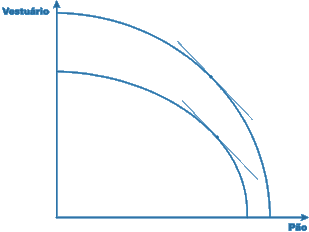|
Os efeitos que acabámos de descrever têm a ver afinal
com o valor relativo das exportações face às importações, isto é, aos
termos de troca
. De facto, como vimos, o aumento do rendimento do país e a consequente
possibilidade de elevar o seu nível de consumo e satisfação resultou de as
suas exportações ficarem mais valorizadas relativamente às importações, o
que implica que necessitou de exportar menos produtos (portanto, usar menos
recursos internos, ou seja, ter um menor custo) para importar os mesmos produtos
que anteriormente. Isto quer dizer que os termos de troca melhoraram.
Em contrapartida, se o preço relativo do pão tivesse
baixado, haveria um desvio relativo do consumo para o pão (deixando até menor
quantidade para exportação), com os efeitos de rendimento e de substituição
a funcionarem em sentido inverso ao descrito para a subida do preço relativo do
pão. O que aconteceu foi a degradação
dos termos de troca do
país.
Podemos então concluir que
os termos de troca têm
uma influência directa no bem-estar (considerando que este é dependente do nível
de consumo e não se preocupa com repartição do rendimento), conduzindo a um
aumento deste quando aqueles melhoram e a um declínio quando se deterioram.
Não é por acaso, portanto, que este conceito é
central na discussão da problemática da competitividade internacional, uma vez
que exportar é fácil. Basta vender a baixos preços. O que é difícil e
contribui verdadeiramente para o enriquecimento do país é exportar a bons preços,
o que significa trazer mais-valias para o país, e isso só é conseguido quando
se oferecem ao mercado mundial produtos de qualidade, obtidos com custos que
proporcionem preços compensadores.
De qualquer modo, convém salientar que o modelo que
apresentamos, designadamente no ponto anterior, não se configura com a
realidade actual, uma vez que existe a possibilidade de obter crédito
internacional que ultrapassa a restrição de só consumir exactamente o valor
que se produz.
Contudo, se essa possibilidade existe, ela rompe com a
restrição para um dado período, mas não a rompe para um espaço de tempo
dilatado: por um lado, aquilo que se pede e que aumenta as possibilidades
actuais de consumo tem de se pagar mais tarde, diminuindo as possibilidades
desse período; por outro lado, é bom não o esquecer, para se ter crédito é
preciso alguém disponível para o conceder, o que implica que débitos e créditos
terão que se compensar em conjunto, abdicando uns de consumir para que outros o
possam fazer. Mas a que preço?
Compreendemos bem que já estamos no campo do
investimento, que não se conforma com este balanço estacionário
subjacente ao nosso raciocínio, uma vez que se espera dele uma reprodução que
ultrapasse a lógica do jogo de soma nula, à semelhança do efeito esperado do
comércio internacional. Mas isto evidencia também como são ainda frágeis
estes modelos para incorporarem toda a realidade económica e toda a
complexidade do mercado internacional. Em particular, vale a pena perceber que
importar bens de investimento, mesmo a crédito, não apresenta as mesmas
expectativas que importar bens de consumo nas mesmas condições – e essa
diferença está, naturalmente, omissa nos modelos apresentados.
Uma outra omissão a não olvidar é que, mesmo quando
os termos de troca se tornam favoráveis e o bem-estar
global aumenta, há perdedores e ganhadores que devem ser identificados, assunto
que retomaremos no Capítulo 4.
|