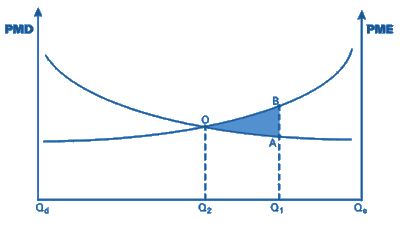|
A existência de um capítulo sobre mobilidade de
factores num pequeno manual de “Economia Internacional” sai fora das
perspectivas tradicionais, mas resulta da necessidade de distinguir
entre a mobilidade de produtos e a dos factores, esta última crescentemente
incrementada pela mundialização da economia
. É certo que Krugman e Obstfeld já apresentam um capítulo específico sobre
este tema, mas a nossa opção pela colocação do assunto depois da abordagem
da política comercial é que rompe com o critério daqueles autores que, em nossa
opinião, não assumem integralmente as consequências das diferenças.
De facto, recordam (Cap.7) que a totalidade dos modelos
apresentados até aí se centram exclusivamente no comércio internacional, isto é, nas causas e nos efeitos das trocas
internacionais de bens e serviços, salientando, em complemento, que estes
movimentos não constituem a única forma de integração internacional, sendo
relevante aí incluir também  os
movimentos internacionais dos factores de produção. os
movimentos internacionais dos factores de produção.
Esta equivalência dos dois tipos de movimentos é
assumida com base na afirmada convicção de que os
princípios de mobilidade internacional dos factores não diferem essencialmente
dos subjacentes ao comércio internacional de bens, donde resulta a defesa
de que não há razão para introduzir qualquer modificação radical na sua análise.
Reconhecem, contudo, que apesar desta fundamental
semelhança económica entre ambos os movimentos, há diferenças importantes no
plano político. Esta observação não pode deixar de lançar algumas
perplexidades para os que, como nós, entendem que a economia é “política” no sentido de que os seus efeitos têm que
ser julgados com base num paradigma da sociedade. Aliás, essa é, quer se
queira, quer não, a implícita posição de quem propõe quaisquer medidas de
política no campo da economia. Diferentes propostas de política apenas revelam
paradigmas alternativos, mas não a ausência deles. Estes só estarão de facto
ausentes nas posições de radicalismo absoluto que defendam que qualquer
intervenção no livre comércio e na livre circulação de factores é má,
alienando todo e qualquer papel do Estado nesta matéria. Dirão, no máximo,
que aceitarão transitoriamente que ele corrija os mecanismos que estejam a
perverter essa liberdade, ignorando a circularidade do seu próprio raciocínio.
Por isso mesmo, decidimos introduzir este capítulo
controverso que deve ser lido como expressão mais aprofundada das preocupações
levantadas no Capítulo 2, algumas das quais serão retomadas e repetidas, pois
ele está, em nossa opinião, na base da passagem de uma economia de
nações (economia internacional) a uma economia mundial
(globalização/mundialização),
o que significa, obviamente, uma alteração radical nas condições de
desenvolvimento de políticas económicas.
Aliás, entendemos que, no fundo, Krugman e Obstfeld têm
intuição desta importância e é por isso mesmo que dedicam um capítulo ao
assunto. Não resistimos à tentação de os citar, optando por uma tradução
livre.
Depois de procurarem mostrar como os dois movimentos são
alternativas económicas (por exemplo, um país abundante em capital pode importar bens intensivos em trabalho ou começar a
empregar trabalhadores imigrantes), salientam que estas estratégias alternativas podem ser semelhantes nas suas consequências
estritamente económicas, mas são radicalmente diferentes na sua aceitação
política.
Como consequência, globalmente, os movimentos
internacionais de factores tendem a levantar maiores obstáculos políticos do
que o comércio internacional, sendo aqueles mais sujeitos a restrições que
estes, designadamente no que toca ao factor humano, já que as restrições à
emigração são quase universais. Contudo, concluem que os movimentos de
factores são muito importantes, valendo a pena gastar um capítulo a analisá-los.
Estamos de acordo, mesmo que a análise seja o mais
ortodoxa possível (e veja-se como Krugman, agora em 1999, condena a
ortodoxia e exactamente por causa de um dos factores – o capital
) e mesmo que acabem por concluir que não há mudança de mensagem, isto é,
que ambos os movimentos têm os mesmos tipos de origens e produzem resultados
similares. Só que isso é, em boa parte, consequência das hipótese que lhes
estão subjacentes e que podem ser vivamente contestadas em termos de adesão à
realidade. Aliás, como já foi referido no Capítulo 2, R. Reich (1991) mostra
bem o equívoco que constitui confundir uma pessoa (um trabalhador – o factor
trabalho, imigrante ou não) com uma camisa (um bem trabalho
intensivo importado), não só pela diferente natureza como pela teia de
relações que é, afinal, a sede da “economia política”.
No início do seu livro, onde defende a “ideia
nacional” (a mais relevante e complexa das “teias” na perspectiva da
economia internacional), afirma claramente que perante as transformações
em curso não haverá mais produtos e tecnologias nacionais, nem grandes empresas nacionais, nem indústrias
nacionais, tal como não haverá mais economias nacionais no sentido que
actualmente assume o termo:
 “Um só
elemento continuará enraizado no interior das fronteiras do país: os indivíduos
que constituem a nação.” “Um só
elemento continuará enraizado no interior das fronteiras do país: os indivíduos
que constituem a nação.”
A partir deste pressuposto, entende que a tarefa
fundamental de cada país será fazer face às forças centrífugas da economia mundial que tendem a romper os laços entre os seus cidadãos,
conduzindo ao crescimento incessante das riquezas dos mais competentes e
reduzindo o nível de vida dos menos qualificados. Em sua opinião, isto leva a
que os indivíduos mais bem apetrechados para triunfar no mercado mundial estarão
tentados a aliviar os seus laços face ao seu país, descomprometendo-se, em
consequência, do destino dos seus compatriotas.
É uma visão que antecipa a classificação de
“cosmopolitas” e de “locais” que R. Kanter (1995) cunhou, tal como se referiu no Capítulo 2.
Para cotejarmos esta posição com a visão ortodoxa do
“mercado internacional” do factor trabalho, centremo-nos no estudo do seu
equilíbrio apresentado na figura 5.1
|