|
3.2.
IMPLICAÇÕES DA
INTEGRAÇÃO EUROPEIA NA
GESTÃO
|
Se o traço distintivo essencial da gestão internacional é a diferença cultural,
põe-se a questão de saber se a União Europeia constitui, de facto, uma unidade cultural em termos de lógica de gestão empresarial.
Posto o problema noutros termos: existirá mesmo uma "empresa europeia", objectivo tão longamente perseguido desde a fundação do Mercado Comum, e imprescindível se se quiser dar expressão significativa à tão decantada concorrência entre os componentes da "Tríade" - EUA, Japão e União Europeia.
A verdade é que, independentemente das naturais diferenciações existentes no interior de cada um dos outros dois espaços, a generalidade das pessoas associa aos EUA uma dada expressão cultural, quer em termos de sociedade, quer em termos empresariais, tal como associa uma outra
cultura ao Japão. Até há pouco tempo (designadamente antes da crise asiática de 1997), ambos os modos de gestão, fundados em diferentes expressões culturais, eram os paradigmas alternativos de referência para "uma boa organização empresarial".
Poder-se-á dizer o mesmo da "Europeia"? A resposta a esta pergunta é crucial, em primeiro lugar para um correcto entendimento do aprofundamento de um verdadeiro Mercado Único e, em segundo lugar, para uma adequada política de internacionalização das empresas portuguesas, no sentido estrito da saída para fora das fronteiras políticas de Portugal.
|
A CONSTRUÇÃO DO
MERCADO
ÚNICO LEVA A UMA
"CULTURA
EMPRESARIAL
EUROPEIA" 
|
O primeiro esboço de resposta a esta pergunta pode fazer-se a partir da observação do que têm sido as empresas na União Europeia e do modo como a sua evolução histórica condicionou fortemente a sua configuração actual.
Em nossa opinião, a configuração histórica é determinante para avaliarmos a existência de uma
cultura empresarial europeia com contornos minimamente reconhecíveis.
E isso leva-nos à consideração do processo de formação da União Europeia e do próprio Mercado Único, este precedendo aquele.
Ao contrário do que sucede com os Estados Unidos e o Japão que são "economias integradas" há muito tempo, embora a
cultura japonesa seja menos diversificada que a americana dado o processo de formação deste último país, a União Europeia
foi-se construindo por fases de inclusão e de exclusão sobre um passado de dissensões e de guerras, tantas vezes provocadas por oposições culturais.
A "CEE a seis" começou por deixar de fora o Reino Unido, um dos vencedores da Guerra, permitindo a afirmação inicial de uma tradição cultural francesa no interior desse primeiro nível da União, sobretudo porque os outros "dois grandes" presentes, a República Federal da Alemanha (uma expressão da Alemanha dilacerada) e a Itália eram perdedores recentes. Em nossa opinião, uma das características ainda hoje fortemente persistente da União Europeia que radica nesse domínio cultural é a força relativamente desmesurada do
lobby agrícola e, consequentemente, da enorme expressão da PAC.
Se em economia a ideia da "vantagem de ser o primeiro" continua a ter foros de grande importância, a construção europeia tem evidenciado essa vantagem à saciedade. Efectivamente, a ideia nuclear de estabilidade construída em torno do "acervo comunitário"
(acquis communautaire - veja-se a língua de referência) acaba por prolongar a influência da visão dos primeiros àqueles que vão chegando a este espaço crescentemente integrado.
O que sucede é que, em princípio, as negociações de entrada "forçam" os candidatos a
adaptarem-se àquilo que é considerado como adquirido e acordado no âmbito do núcleo previamente existente, configurando, naturalmente, um acerto e um compromisso entre as suas preocupações específicas - ou, noutros termos, as suas expressões culturais.
É certo que as condições de entrada não dependem só de quem está mas também do "peso" de quem entra, para além de os acordos nucleares poderem não ser estáticos se a evolução do poder relativo dos parceiros face à situação inicial se alterar, como foi o caso.
Assim, o primeiro alargamento, que incluiu o Reino Unido, a República da Irlanda e a Dinamarca, veio pressionar os equilíbrios existentes sem lhes alterar a dominância em termos relativos. Contudo,
introduz-se uma vertente mais Atlântica e, simultaneamente, aumenta-se o peso de um certo "Norte" no contexto europeu.
Mas mais importante que isso, surge no interior da CEE uma língua com direitos de cidadania - o inglês - que vai desafiar a dominância da primeira língua estabelecida - o francês -, ainda por cima com a alavancagem do poder americano na Europa e numa altura em que a sua afirmação como língua
"quase-franca" (sobretudo em termos negociais e científicos) começava a dar os primeiros passos.
E sabido como uma língua é, incontestavelmente, portadora de fortes elementos culturais, estava dado o mote para a luta entre a manutenção da
multi-cultura e o eventual domínio de uma ou algumas delas ou, o que ainda é mais perturbador, de uma que lhe é exterior, mesmo que veiculada por agentes interiores, quais "Cavalos de Tróia".
A adesão da Grécia em 1980, embora traga para o seio da Comunidade uma cultura milenária, não causa grandes alterações culturais dada a fragilidade da sociedade e da economia gregas face ao núcleo a que se acabara de agregar. Constituía, no entanto, uma nova expressão do "Sul" da Europa, radicalmente mediterrânica, que vinha de algum modo abrir perspectivas a um reequilíbrio, rompido com o primeiro alargamento.
A entrada simultânea de Portugal e da Espanha, embora em si mesma não tenha constituído um elemento fortemente perturbador da preponderância cultural, não obstante a dimensão espanhola, deu nova força ao "Sul da Europa", aumentando o peso da latinidade e da tradição católica, com predomínio de cultura de elevado contexto face a uma cultura nórdica de contexto relativamente mais baixo.
Esta última vertente foi, entretanto, fortemente aumentada com o último alargamento, através da entrada da Suécia, da Finlândia e, em menor grau, da Áustria.
Entre estes vários crescimentos de "adição" assiste-se à emergência interna de uma potência relativa, a Alemanha, inicialmente como RFA, devido ao seu poderio económico. Esta dominância relativa veio ainda a ser ampliada pela reunificação, que lhe conferiu uma maior expressão demográfica.
A preponderância da França estava definitivamente ultrapassada, não sem que o lastro do "acervo comunitário" lhe cometa um peso que, de outro modo, cremos que seria mais reduzido.
Por outro lado, a afirmação crescente da língua inglesa no interior da UE tem tido uma influência cultural não irrelevante, sobretudo porque permite veicular com enorme facilidade e velocidade de difusão os traços culturais da potência dominante a nível mundial.
Terão estes desenvolvimentos contribuído para a criação de uma cultura europeia específica?
Fora da visão de que a "especificidade da Europa" é a sua expressão multicultural, não se têm, em nosso entender, adensado os traços que configuram uma cultura empresarial europeia específica.
Curiosamente, pelo menos do "lado de fora da Europa", designadamente do lado americano, as avaliações que se fazem do ambiente social e político que enquadra as empresas europeias assentam numa perspectiva de unicidade. Parece que "vista do lado de fora" a Europa apresenta uma certa "unidade
cultural".
Só que essa unidade é avaliada de forma negativa, como sendo anquilisadora do desenvolvimento (na verdade, apenas do crescimento, e se o for), porque não totalmente conforme com as regras dominantes do
neo-liberalismo, tornadas paradigmáticas como critérios de referência de "bom ou de mau comportamento".
Esta tendência para cunhar os comportamentos relativamente ao "centro" - os EUA - foi assumida, tal como releva Bernard Kapp ("L'invention du
sous-developement",
Le Monde, 30.11.1999), pelo Presidente Harry Turman, já em 1949, quando pela primeira vez utilizou a expressão "regiões subdesenvolvidas". Esta noção implicitamente permitiu impor o modelo de sociedade industrial ocidental liderado pelos EUA - as outras, à altura, estavam destruídas pela guerra precedente - como referência universal de desenvolvimento.
A visão "exterior" que confere à União Europeia é, de algum modo, uma reactualização do quadro universal de referência aos EUA e dos desvios que eles próprios detectam em relação ao seu modelo.
Um bom exemplo desta visão é o editorial da Business Week (27.12.1999), "In Europe, The Welfare State Dies Hard", em que se criticam as políticas francesa - de redução das horas semanais de trabalho para 35 - e alemã - proposta de redução da idade de reforma para 60 anos -, ancorando-as na tradição cultural europeia:
"A Europa, com a sua história de reis, "kaisers" e déspotas, está orgulhosa do seu progresso social neste último século. Os seus cidadãos estão relutantes em apostar estes ganhos pela promessa da Nova Economia. Gostam das suas longas férias, e aqueles que têm emprego consideram que os impostos elevados e um crescimento modesto são um
'trade-off' tolerável."
Acrescenta o editorialista que se os governos não estão a fazer o seu papel, os mercados
fá-lo-ão por eles, apontando a liderança das grandes empresas na mudança estrutural em curso na Europa e os governos como os empecilhos a essa reforma:
"Os empresários têm que lutar contra o status quo. Os políticos franceses e alemães continuam a alinhar pelo proteccionismo, mesmo se as suas próprias empresas investem fortemente fora das fronteiras nacionais. Apenas a
Grã-Bretanha fez progressos reais no seu posicionamento face à Nova Economia."
O editorialista aponta depois o seu veredicto final:
"Sem políticas favoráveis dos governos para a promoção do crescimento, em lugar do seu estrangulamento, a Europa não atingirá provavelmente o seu potencial económico numa altura próxima. E os melhores e os mais brilhantes dos seus filhos continuarão a procurar as suas oportunidades em Londres, Nova Iorque ou Sillicon Valley."
Esta crítica, que descreve com justeza o pensamento liberal dominante, revela em toda a sua profundidade várias
"verdades" assumidas que não podem ser obliteradas neste contexto de abordagem cultural da União Europeia e da sua relação com a economia mundializada:
1ª De novo, a noção de crescimento é o primeiro e essencial objectivo da exploração do potencial económico.
2ª A melhor política governamental é dirigida a um crescimento e deve ser seguida pelos restantes governos, que devem sacrificar outros objectivos que, por tradição cultural, têm procurado preservar.
3ª A Grã-Bretanha é a "melhor aluna" desta política, juntando à dominância da língua a perspectiva da dinâmica interna do comportamento político único. Isto é sublinhado não só pela referência específica a esse país, mas sobretudo pela subtil "parceria" de Londres com Nova Iorque e Sillicon Valley enquanto local de atracção para os mais brilhantes.
4ª As preocupações sociais estão longe de qualquer preponderância no contexto dos objectivos de crescimento. Não só isso está evidenciado pela crítica ao comportamento dos governos europeus, como pelo foco nas "elites" europeias, sem cuidar dos efeitos sobre a generalidade dos cidadãos. Aliás, esta mobilidade dos "cosmopolitas", na bem conhecida designação de Rosabeth M. Kanter, cumpre com fidelidade dois objectivos: a drenagem de cérebros para os EUA, aumentando a sua potencial dominância na "sociedade do saber", e a difusão do seu modelo social como paradigma de sucesso.
5ª As empresas (grandes) da Europa têm crescentemente um comportamento homogéneo, compatível com as exigências da competitividade imposta pelos mercados globais, mesmo tendo que defrontar contrariedades impostas pelos seus próprios governos.
Estas características apontadas por uma "visão exterior" mostram afinal que se há uma unidade cultural europeia ela não está nas empresas europeias, pelos menos nas grandes (ou só nelas?), mas sim na sociedade, nos cidadãos, e isto graças às acções persistentemente "incorrectas" dos governos europeus. Na tal "visão exterior" parece haver alguma unidade de cultura "social" europeia, mas não de "cultura empresarial" europeia e, o que é ainda mais agudo, essa cultura social impede um bom funcionamento das empresas,
falhando-lhe as suas estratégias e anquilosando as potencialidades de crescimento na Europa.
|
A "INTERNACIONALIZAÇÃO"
DAS EMPRESAS
PORTUGUESAS NA
UNIÃO
EUROPEIA
|
Abordado o problema da unidade ou diversidade cultural no âmbito da União Europeia, importa agora ponderar os seus efeitos, se os houver, sobre as perspectivas de internacionalização das empresas portuguesas que encaram este espaço geográfico como potencial para o seu desenvolvimento natural.
Que alternativas há que encarar?
Se houvesse uma "cultura empresarial europeia" não existiria verdadeira diferenciação do espaço geográfico que não fosse motivada por diferenças na disponibilidade de factores ou de expectativas de variações nos preços e receitas consequentes. Isto quereria dizer que uma decisão de negociar em Espanha ou na Áustria (qualquer que fosse o modo de entrada escolhido) não tinha que ter em conta qualquer factor cultural. Na verdade,
se estivessem plenamente concretizadas as quatro liberdades do Tratado de Roma que constituem o travejamento do Mercado Único - liberdade de circulação dos bens, dos serviços, dos capitais e das pessoas -, a única variável diferenciadora seria a distância física, e apenas porque admitimos, com realismo, que ela condiciona alguns desses movimentos, nomeadamente os de bens e os de pessoas, dada a sua materialidade intrínseca.
É essa variável que pode explicar que boa parte da internacionalização das empresas portuguesas, em qualquer dos tipos de movimentos estratégicos estudados, se dirija para Espanha, designadamente após a mútua adesão às Comunidades Europeias.
Mas será essa característica o único factor explicativo? Não existirão também semelhanças culturais?
Posto o problema de outro modo: será mesmo que não há culturas empresariais diferentes entre várias regiões europeias, na ausência de uma cultura empresarial comum e na rejeição, pelo menos parcial, do modelo globalizante unificador?
Um estudo recente feito pelo IFOF-Gallup para a Câmara de Comércio e Indústria de Paris, a partir de um inquérito realizado junto de 802 empresários dos 15 Estados da União Europeia (Le Monde, 30.11.1999), mostra que os países do Sul têm maiores dificuldades em criar empresas,
revelando-se enormes disparidades no seio dos Quinze.
Se é certo que o comportamento dos governos tem uma influência não desprezável neste campo, quer pelos entraves legislativos e administrativos que levanta, quer, pelo contrário, pelos incentivos que concede e caminhos que pode abrir (e essas diferenças, por vezes substanciais, não são já afirmações culturais específicas que acabam por afectar uma empresa "estrangeira", obrigando-a a reequacionar-se num ambiente diferente?), não é menos certo que se identificam diferenças a nível social e mesmo de comportamento empresarial.
De facto, é revelador o peso da ajuda familiar aos criadores de empresas no Sul da Europa. Se ela procura compensar a indisponibilidade dos bancos, também evidencia as características culturais de elevado contexto, com os jovens a permanecerem integrados até bem mais tarde nas famílias.
Aliás, o próprio comportamento dos bancos pode ser reflexo dessa cultura de aversão ao risco, bem presente na maior indisponibilidade de fundos de capital de risco em países do Sul, posto que esta seja uma pecha quase generalizada na Europa.
No mesmo sentido da difusão vão os resultados de um inquérito "Eurosurvey 1997 - Intrum Justitia N.O.P.", publicado a 30.11.1999 em
Le Monde, que mostra que os atrasos de pagamento entre as empresas nos países do Sul são claramente maiores que entre as dos países do Norte, com perigosa evidência sobre os equilíbrios empresariais e aumento do risco de ruptura financeira ou mesmo de falência. As razões invocadas têm grande proximidade com as características das sociedades com culturas de elevado contexto:
"os contratos não são, muitas vezes, escritos; as penalidades por atraso menos praticadas e o pagamento
faz-se preferencialmente por letras ou por cheques e não por transferências bancárias (…) A este tipo de comportamento nem fogem as entidades públicas que frequentemente demoram muito tempo a satisfazer as suas dívidas."
|
|
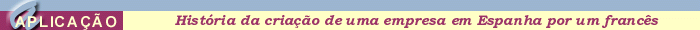
Um francês cooperante em Espanha criou aí uma empresa especializada em estações de depuração para tratamento de resíduos industriais, porque a concorrência era fraca, ao contrário de França onde o mercado estava todo ocupado.
De início, surgiram as tradicionais dificuldades em encontrar o capital necessário, só tendo conseguido arrancar graças a um empréstimo familiar.
Em contrapartida, encontrou também as facilidades do "lado bom" da Península Ibérica: "fornecedores e clientes mais compreensivos, a maior parte deles também PME, que 'têm a mesma linguagem' e, sobretudo, uma administração muito menos rígida".
Fonte: Le Monde 30.11.1999
|
|
Todos os dados apontam, portanto, para que a internacionalização aproveite, para além da proximidade geográfica, também a proximidade cultural, uma vez que daí resultam custos de aprendizagem claramente menores.
Em nossa opinião, as empresas portuguesas, considerando a sua dimensão relativa, têm que se preparar para desenvolver abordagens diferentes em vários países, mesmo dentro da União Europeia, apesar das aproximações dos últimos anos e das homogeneidades crescentes introduzidas pelo aprofundamento do Mercado Único.
|
|