|
3.3.
OS PROBLEMAS DO
ALARGAMENTO AOS
PAÍSES DO CENTRO E
LESTE EUROPEUS
|
Não faz qualquer sentido discutir os aspectos culturais da União Europeia sem ter em atenção os alargamentos em estudo, quer o mais imediato quer os mais dilatados no tempo. E há que ter em conta não apenas uma perspectiva de futuro, mas também do presente e até do passado, porque muitas das decisões já tomadas ao nível da União Europeia foram efectivamente condicionadas pelo horizonte dos alargamentos.
Em Portugal esse horizonte levantou sempre sérias preocupações que acabaram por quase fazer esquecer as potencialidades em aberto,
estabelecendo-se uma ideia de competição acrescida (e alegadamente prejudicial) quer no plano político - desvio de fundos europeus -, quer no plano empresarial - competição com custos mais baratos nos mercados europeus, nossos principais clientes.
Implícita nestas preocupações, que desde logo surgiram, está a hipótese de uma grande homogeneidade da Europa, não atenta aos aspectos culturais que permitem a exploração das diferenças e que estão no âmago deste capítulo.
Para aprofundar e testar estas preocupações, foi lançado logo em Março de 1990 um estudo no âmbito do Ministério da Indústria e Europa, através de um Protocolo com o Centro de Estudos Aplicados da Universidade Católica Portuguesa, com a duração de dois anos (publicado em 1992). Aí referíamos que, já em Outubro de 1990, a aceleração das transformações se dava em três domínios fundamentais:
"i) Evolução heterogénea dos países do Leste Europeu, com gradientes de evolução, em direcção e módulo, ainda por cima não constantes no tempo, que impõem uma análise separada de diversos grupos, se não mesmo de cada país, pois as características específicas das
evoluções estão a marcar muito mais os contornos da situação futura que o cimento histórico, teoricamente aglutinador, da Europa de Leste ou do Comecon.
ii) A erupção dos nacionalismos, adormecidos ou amordaçados, quer em partes de países, quer mesmo em zonas transfronteiriças, pondo em causa a própria divisão política da Europa e, portanto, a configuração dos centros relevantes de decisão, com fortes pressões sobre a construção comunitária.
iii) Os fluxos e os refluxos dos grandes gigantes económicos, quer países, quer empresas, face ao imprevisível dinamismo da evolução descrita, ainda mais nebulosa pela actual crise do Golfo, cujos contornos, eles mesmos, não podem ser desconectados da evolução na Europa do Leste."
Nessa mesma altura, isto é, em Outubro de 1990, dávamos conta de dois movimentos que se esboçavam e que poderiam ter influência marcante na nova configuração europeia:
-
"os perigos de desagregação da URSS e o surto de afirmação das nacionalidades que, por vezes, já buscam, de uma forma autónoma, relações regionais relevantes numa lógica histórica";
-
"O papel importante que, neste reajustamento, pode desempenhar a Jugoslávia, pelas tensões de desagregação que sempre lhe têm sido inerentes e que encontram, agora, maior oportunidade para se afirmarem, dado o efeito de demonstração que a URSS possibilita. Tendo em atenção, ainda, que essas tensões não são apenas endógenas, mas traduzem, também, pressões exógenas de alguns vizinhos, designadamente da Hungria, por causa de Vojvodina e, sobretudo, da Albânia, por causa do Kosovo, mais do que estar atento à Jugoslávia, convém acompanhar toda a região balcânica, um histórico foco de permanentes tensões na velha Europa, sem alienar a Albânia, que começa a apresentar os primeiros sinais de não poder
manter-se permanentemente isolada do resto da Europa".
O acompanhamento diário da evolução em curso no Centro e Leste Europeus, mais evidente com o findar da Guerra do Golfo (que, se não foi inócua, e não foi, relativamente à evolução nesses países, pelo menos retirou deles os olhares mais intensamente atentos dos observadores internacionais) permitiu um novo diagnóstico da situação, cujos contornos mais marcados, nas vésperas do designado "Golpe de Agosto na URSS", eram os seguintes:
-
"a tremenda convulsão jugoslava, com a perspectiva preocupante de uma guerra civil, se o que existia nesse período não merecia já esse nome";
-
"o aumento de pressões para a desagregação da URSS (…), [com] muitas das repúblicas a
recusarem-se a contribuir para o orçamento central";
-
"crescente consciência dos alemães de que a reunificação se não fará com a simplicidade antecipada e a consequente abertura às empresas de outros países nesse esforço de homogeneização do espaço alemão";
-
"o definitivo desligar do trio - Hungria, Checoslováquia, Polónia - do restante bloco de Leste no que toca à tomada da via para a economia de mercado e sistemas democráticos".
Este último ponto é, então, crucial para o entendimento de todo o desenvolvimento do processo nessa região da Europa, tendo mesmo originado um certo desligamento cultural e geográfico do "Leste", sugerindo a ideia do Centro e a designação que assumimos na epígrafe deste subcapítulo, hoje definitivamente consagrada.
Esta assunção de identidade histórica e cultural vai encontrar um paralelo nos Países Bálticos que, com a queda de Gorbachev, se apressaram a declarar a independência, reassumindo a sua inserção natural no conjunto dos Países Nórdicos.
Esta breve digressão pela história recente, que por vezes parece ter caído no esquecimento, evidencia bem o "mosaico" cultural que é a Europa, onde quaisquer tendências para a homogeneização terão sempre dificuldade em ultrapassar.
As situações actuais dos diferentes países dessa área só vêm confirmar estas perspectivas e não é por acaso que entre os 6 candidatos à integração europeia com processos mais adiantados se encontram a Hungria, a Polónia, a República Checa (que a cisão da Eslováquia deixou isolada, mas à frente), a Estónia (um dos Bálticos) e a Eslovénia (a única república da
ex-Jugoslávia que, praticamente, escapou à guerra e se desenvolveu sem sobressaltos de monta).
Vê-se claramente que os aspectos culturais e históricos desempenharam um papel significativo no novo desenho político da Europa. A par disso, as culturas empresariais, de algum modo abafadas pelo espartilho do Modelo Económico de Direcção Central homogeneizador,
libertaram-se nalguns desses países, evidenciando traços comuns, mas também diferenças, consonantes com as vivências culturais do meio que as acolheu.
Tivemos ocasião, durante alguns anos da década de 90, de acompanhar estudos de casos de empresas em transição nos três países do Centro e Leste Europeus e pudemos verificar que o choque cultural e a novidade do mercado foram integrados com alguma normalidade na Hungria, porque manifestamente latentes, e com maior dificuldade na Polónia e na República Checa, embora com diferenças manifestas.
Contudo, para se entender o ambiente negocial que um projecto internacional possa aí encontrar,
justifica-se olhar em primeiro lugar para os resultados comuns e só depois ressaltar as diferenças, nestas evidenciando, se for caso disso, a influência do peso cultural.
Assim, S. Estrin e outros (1995), com base nos estudos de casos desenvolvidos, com ênfase particular na evolução dos esquemas de governação das empresas e nos esquemas de transição de direitos de propriedade em curso na altura, salientavam logo que, mesmo com todas as reservas que os estudos de casos impõem - em particular o perigo de abusivas generalizações - era evidente que os três países diferiam significativamente nas suas instituições, políticas e situações macroeconómicas,
reflectindo-se essas diferenças nas trajectórias de transição das empresas aí sediadas.
No entanto, havia características comuns que valeria a pena pôr em evidência:
-
Nas economias socialistas os salários eram determinados centralmente, pelo que, em geral, pouco tinham a ver com a escassez relativa das diversas especialidades. É óbvio que, com a abertura ao mercado, ocorreram grandes disrupções com enormes pressões para a criação de perturbadoras assimetrias, em resultado da escassez inesperada de algumas profissões e abundância de outras.
-
Apesar de haver a ideia, mais que legitimada pela fundamentação do modelo de direcção central, de que a autonomia e a autoridade ao nível da empresa dependiam crucialmente de os objectivos serem os do Governo ou das agências governamentais, não se identificou nenhum caso de transição em que a evolução da empresa fosse por eles determinada. Ao contrário, a influência decisiva esteve sempre nas mãos dos gestores e/ou dos trabalhadores.
A evidência disponível mostrou que na Hungria e na República Checa os gestores foram os principais dinamizadores (e frequentemente beneficiários) dos processos de transição
empresarial, aí incorporando a redefinição dos direitos de propriedade e a estruturação da sua governação.
Ao contrário, na Polónia, em virtude do peso tradicional dos Sindicatos, tendo como expressão máxima e bandeira o Solidariedade, esse papel esteve, sobretudo, nas mãos dos
trabalhadores. É óbvio que, neste caso, a liderança foi mais difusa, criando algumas perturbações que vieram a ser superadas por uma vontade política menos gradualista nas suas acções.
|
|
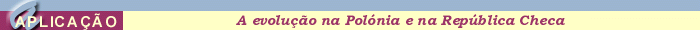
M. Belka e outros (1993) apresentaram um Country Overview que evidenciava algumas características específicas do que se estava a passar na Polónia e as dificuldades de superação da "visão passada".
As empresas consideram-se a si mesmas como elementos inamovíveis da estrutura económica nacional. Por isso, entendiam que, em caso de dificuldades podiam contar com a protecção do Estado, não demonstrando qualquer preocupação com a sua própria sobrevivência.
Com a política de choque utilizada, tudo mudou, sendo ainda difícil dizer quais as mudanças mais dolorosas e mais inesperadas, em especial porque se foram sentindo desfasadamente.
O que parece certo é uma profunda perturbação psicológica resultante de os sectores previamente privilegiados se verem postos a par do resto da economia ou, como muitas pessoas consideram na Polónia, mesmo em posição de inferioridade.
Já na República Checa, J. Matesova (1993) interrogava-se sobre se o seu "coração industrial" continuaria a bater perante a "Revolução de Veludo" em curso. E apontava algumas características prévias da economia checa que legitimavam essa pergunta preocupada:
era muito positivo o elevado nível médio cultural e educacional das pessoas, assim como a larga tradição industrial do país, baseada em grande parte num bem cotado sistema de treino vocacional que contribuía decisivamente para o elevado nível de especialização dos seus trabalhadores.
Contudo, havia hábitos que ameaçavam "corromper" estas potencialidades:
- o sistema de planeamento favorecia uma performance quantitativa e não qualitativa;
- ter um posto de trabalho equivalia, normalmente, a um nível satisfatório de consumo, sem que isso implicasse um trabalho pesado ou muito intenso;
- o nível de vida era muito marcado pela oportunidade de evitar um trabalho difícil,
procurando-se antes um maior tempo de lazer;
- antes da transição, a variância salarial inter-especializações e inter-industrial era baixíssima,
agravando-se a falta de motivação para a busca de um trabalho intenso;
- dois anos após a transição, os trabalhadores continuavam relutantes em aceitar quaisquer transformações na empresa que ultrapassassem a mera lógica da reorganização dos recursos humanos;
- as pessoas continuavam com aversão à assunção de riscos e de responsabilidades;
- depois da "Revolução de Veludo", removeram-se algumas barreiras entre os "níveis verticais" mas
manteve-se um forte nível de desconfiança entre os diferentes níveis de pessoal. Não se rompeu com a característica nacional checa de sistematicamente criticar a empresa onde se trabalha,
evidenciando-se um baixo grau de lealdade à empresa, apesar de, paradoxalmente, a rotação continuar a ser baixa, muito por culpa da inexistência de um mercado de habitação;
- os gestores não o eram de facto, mas sim administradores, no mais "burocrático" sentido do termo. Confrontados com a transição,
viram-se sem capacidades nas áreas de finanças empresariais e de marketing;
- a gestão de recursos humanos era completamente negligenciada, como consequência de precedentemente haver sobre esses recursos um controlo estrito de cariz político por parte do Partido Comunista.
|
|
Os exemplos em "caixa" da Polónia e da República Checa exibem as diferenças culturais e circunstanciais que levaram Estrin e outros (1993) a concluírem que, na prática, foram as condições nacionais os factores que mais decisivamente influenciaram os padrões de transição das empresas.
Estas condições podem considerar-se como implícitas nos estudos editados por P. Scholtes (1996) que estenderam a sua avaliação da transição a países fora da Europa, com ênfase especial na Ásia, em busca de padrões comuns.
Mas os casos estudados parecem mostrar que as diferenças persistem. Atente-se nalgumas das suas verificações:
-
A aprendizagem da transição e o crescimento da produtividade têm lugar em simultâneo com a evolução institucional, sendo estas instituições vitais para o financiamento do sector dos negócios.
-
As instituições informais assumem particular importância, caracterizando as práticas negociais e os códigos de comportamento, as redes de contactos e um sem número de normas culturais específicas herdadas do passado, que desenham o perfil das actividades negociais.
Estas especificidades culturais não impedem, no entanto, o reconhecimento do papel das autoridades públicas na promoção da adaptação ao sistema de mercado, salientando Scholtes a necessidade de construir uma grande competência na moderna economia industrial, em sua opinião uma disciplina com marcado défice nas economias em transição - ou não fosse ela a que, por excelência, estuda (ou deve estudar) o funcionamento e a
performance dos mercados reais.
É claro que um promotor e um gestor de projecto nestas regiões não podem esquecer estes aspectos ainda incipientemente resolvidos de uma transição que, embora avançada, não está completamente assimilada. Nela se geraram situações empresariais com algum hibridismo cultural, a que não faltaram sequer aquisições pouco claras de direitos de propriedade e enriquecimentos rápidos, a par de empobrecimentos não sentidos antes, com graves tensões sociais que hoje são evidentes.
Alguns apontamentos sobre o que se passou e se passa nalgumas empresas dessa região podem ser boas indicações para uma adequada perspectivação de eventuais projectos.
M. Belka (1993) traça os contornos do que pode ter sido uma transição de sucesso através de um exemplo polaco de evolução de uma empresa integrada de vestuário, definindo, portanto, a situação que podemos encontrar hoje nalgumas empresas que evoluíram com êxito.
O seu diagnóstico é certeiro:
"Os vencedores claros da transição foram os gestores que viram os seus rendimentos subir substancialmente, (…) enquanto os grandes perdedores foram os accionistas que financiaram a transformação da empresa com a expectativa de um retorno decente do seu investimento, que não foi cabalmente garantido."
Essa transformação passou por um processo de privatização que levou ao estabelecimento de estreitas relações de trabalho com consultores locais e estrangeiros, que abriram novos horizontes às pessoas e as estimularam à aquisição de maiores níveis educacionais.
Criou-se, por isso, um forte programa de formação dos gestores, que se estendeu a todos os níveis sob estreito controlo do Presidente da empresa.
Fortaleceu-se a capacidade de intervenção da empresa à custa do esperado retorno dos accionistas que, como se vê, pouca influência tiveram no processo de transformação empresarial,
emergindo aqui claros problemas de definição de direitos de propriedade e de governação de empresas, que devem ser tidos em conta nas negociações nessa
região.
Este caso contrasta, por exemplo, com outro dado por M. Sauer (1993) para uma empresa checa da indústria química pesada.
O seu diagnóstico foi severo para com os gestores, defendendo que eles teriam que mudar radicalmente, pois eram ainda muito orientados para a produção.
Era ainda incipiente a sua compreensão da importância da estratégia do marketing, do comércio externo, da contabilidade e das finanças, e a mudança muito lenta.
Por outro lado, persistia a passividade dos trabalhadores. O baixo nível de capacidade de gestão não os incitava à mudança e à iniciativa, nem a assumir as responsabilidades pelas suas vidas.
Este diagnóstico de um caso pormenorizadamente estudado está, aliás, em linha com as observações mais gerais de Matesova (1993) acerca do nível de gestão das empresas checas nessa altura:
-
os gestores não sabem o que fazer;
-
têm reeio do forte conservadorismo dos seus stakeholders;
-
justificam o adiamento de decisões com a incerteza do processo de decisão;
-
satisfazem-se com o que conseguem, procurando manter o seu estatuto social pelo maior espaço
de tempo possível;
-
"porquê mudar se continuam a produzir?" é uma pergunta-resposta que evidencia ainda a prevalecente orientação para a produção.
Estes dois exemplos, de algum modo antagónicos e provavelmente contrariando a expectativa difundida nessa altura da situação relativa dos dois países em causa, vem
lembrar-nos que os casos não devem ser generalizados e também que a cultura conta, mas que, dentro dela, a capacidade humana pode mudar muito a trajectória das empresas.
A situação actual nestes países herda, por certo, estes desenvolvimentos assimétricos, de modo que nos parece atrevido admitirmos que há uma
cultura empresarial específica que um empresário estrangeiro tem que apreender.
Ao contrário, parece-nos existir aí uma profusão de situações a explorar com vertentes diferentes, mas em que o elemento cultural específico só poderá ser apreendido por uma vivência com um mínimo de duração, ou com uma parceria com locais capazes de entender o mercado e as tendências para a mundialização que o tornam cada vez mais presente.
No que toca ao desenvolvimento do espírito empresarial e da lógica de mercado, não posso senão ter em muita conta as palavras de I. Singh, com quem trabalhámos nestes projectos. Interrogado há pouco tempo sobre o seu interesse em continuarmos os estudos para o desenvolvimento da transição nesses países com parceiros locais, respondeu-nos sem hesitações que isso já não faria sentido,
"porque eles já sabem tudo!".
Levando em conta a sua enorme experiência, os empresários e gestores portugueses farão bem em estar atentos a este aviso quando perspectivarem o lançamento de projectos nessa região.
|
|