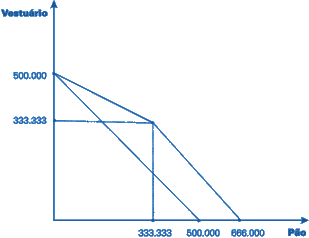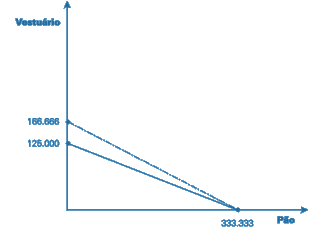|
O desenho dessas fronteiras e dos
conjuntos de possibilidade de consumo
que elas limitam é, por si
mesmo, ilustrativo do maior poder da Tecnolândia.
Admitamos que se estabelece o comércio entre os dois países
em conformidade com o princípio das vantagens comparativas que levará à troca
de Vestuário fabricado na Tecnolândia por Pão produzido em Artelândia, e que
a  taxa
de troca é de 2 unidades de Vestuário por
1 unidade de Pão, valor que fica entre a taxa de 1:1 na Tecnolândia e 8/3:1 na
Artelândia, evidenciando ganhos mútuos, conquanto não iguais, dos produtores
de Vestuário da Tecnolândia e dos de Pão da Artelândia. taxa
de troca é de 2 unidades de Vestuário por
1 unidade de Pão, valor que fica entre a taxa de 1:1 na Tecnolândia e 8/3:1 na
Artelândia, evidenciando ganhos mútuos, conquanto não iguais, dos produtores
de Vestuário da Tecnolândia e dos de Pão da Artelândia.
Com esta
taxa de troca
desenham-se, nas mesmas figuras, as novas possibilidades de
consumo de ambos os países, permitindo visualizar os ganhos bem maiores da
Tecnolândia. Poder-se-á argumentar que, com outra taxa de troca mais favorável
aos produtores de Artelândia, não se obterá necessariamente este resultado.
Mas poder-se-á, em geral, estabelecer uma taxa de troca que lhes seja mais
favorável? A resposta é francamente negativa porque há condições de
assimetria entre os países que deslocam as vantagens para a Tecnolândia.
Efectivamente, é fácil verificar que, qualquer que seja a taxa de troca (desde
que faça sentido, mesmo que mais desfavorável à Tecnolândia), este país
pode adquirir todo o pão à Artelândia e ainda ficar com recursos para
produzir mais pão ou mais vestuário ou uma combinação de ambos, situação
inatingível para Artelândia.
No caso da
taxa de troca
admitida, a Tecnolândia, além das 333 333 toneladas de pão
adquiridas a Artelândia – que assim só ficava com vestuário (166 666
unidades) –, poderia ainda produzir internamente igual número de unidades de
pão ou de vestuário. Além disso, ainda poderia “encontrar” uma “segunda
Artelândia” com quem trocar nas mesmas condições, o que lhe permitiria
alcançar 1 milhão de unidades de pão, enquanto a Artelândia esgotaria
radicalmente todas as suas possibilidades de troca.
Estes dados são mais que suficientes para evidenciar a
posição de força que a Tecnolândia tem relativamente à Artelândia na
negociação da taxa de troca, o que indicia que o valor que se vier a estabelecer será naturalmente favorável
ao mais forte. É certo que toda a discussão se tem concentrado quase
exclusivamente nas condições de oferta dos dois países e muito pouco nas
condições de procura (pecha muito comum na teoria económica). No entanto, são
estas que revelam a apetência relativa dos consumidores pelos produtos e que,
em conjunto com as condições de oferta, vão ter influência decisiva na fixação
da taxa de troca. É esta a razão por que afirmamos que a taxa de troca
é em geral (e
não sempre) favorável ao país mais forte. De facto, pode acontecer uma
enorme apetência dos consumidores do “país mais forte” pelo produto do
“país mais fraco” e uma relativamente fraca apetência em sentido contrário.
Nesse caso, as condições de procura tenderiam a tornar a taxa de troca mais
favorável ao “país mais fraco”.
Todavia, esta é uma situação muito improvável, não
só porque traduziria situações de partida pouco consistentes (em cada país
os recursos estariam a ser afectados ineficientemente, isto é, sem a adequada
atenção pelas preferências dos consumidores), como pela evidência de que as
preferências dos consumidores têm muito a ver com o seu orçamento e este é,
em princípio, bem mais folgado no “país mais forte”.
Por isso, é sem surpresa que se acolhe a conclusão de
D. Landes (1998), com base nos registos históricos, de que os ganhos de comércio
são desiguais, recomendando uma ponderação séria dos efeitos do comércio e
não a sua aceitação sem discussão.
 Ressalve-se, no entanto, que esta cautela não
tem que ver com o mérito absoluto do comércio internacional, mas apenas com a
legitimidade de uma desigual apropriação dos seus frutos. Estamos, contudo, de
acordo com Krugman e Obstfeld quando se insurgem contra algumas posições que
negam as vantagens do comércio internacional, que consideram mitos. Ressalve-se, no entanto, que esta cautela não
tem que ver com o mérito absoluto do comércio internacional, mas apenas com a
legitimidade de uma desigual apropriação dos seus frutos. Estamos, contudo, de
acordo com Krugman e Obstfeld quando se insurgem contra algumas posições que
negam as vantagens do comércio internacional, que consideram mitos.
O
primeiro desses mitos é o de que o comércio livre só é benéfico para países
suficientemente fortes para aguentarem a concorrência externa.
A teoria das vantagens comparativas é, por si mesma, a
negação deste mito e Krugman e Obstfeld mostram-no dando um exemplo que,
curiosamente, envolve Portugal. Recordando que a vantagem competitiva de uma dada indústria depende não só da
produtividade relativa face à indústria estrangeira com que se confronta, mas
também do salário nacional relativamente ao do país estangeiro, mostram
que se Portugal tem, por exemplo, menor produtividade que os EUA na produção
de vestuário, se a desvantagem da produtividade ainda for maior nas outras indústrias,
faz sentido, apesar de tudo, pagar salários mais baixos de modo a garantir uma
vantagem competitiva na indústria do vestuário. Esta “solução”
conduz-nos ao que consideram o segundo mito:
O
comércio livre
é injusto e prejudica outros países quando é baseado em baixos salários.
É evidente que este argumento decorre da solução
apresentada para rebater o primeiro mito, já que esta impõe a “fabricação”
de uma vantagem comparativa à custa de baixos salários, legitimando, de certa forma, as
queixas dos sindicatos que defendem o estabelecimento de medidas de protecção
face a algumas importações. O argumento contraditório de Krugman e
Obstfeld é de que a razão dos baixos salários não é o comércio mas sim a
produtividade baixa do país, perguntando-se, em consequência, se há algum mal
intrínseco em basear as exportações em baixos salários, caso seja essa a
realidade de um país, mesmo reconhecendo que ela é desconfortável.
Tal pergunta leva-os ao que consideram o terceiro mito:
O comércio livre
explora um país e coloca-o em pior situação se os seus trabalhadores
receberem salários muito menores que os dos outros países.
É o chamado
 mito da
exploração e configura a situção em que o
conteúdo de trabalho das exportações é francamente superior ao das importações. mito da
exploração e configura a situção em que o
conteúdo de trabalho das exportações é francamente superior ao das importações.
Sem negarem esta evidência, Krugman e Obstfeld
perguntam-se se há melhor alternativa, pergunta que tem implícita a afirmação
de que não está em causa se é ou não justo esse baixo salário, mas sim o
facto de que sem o comércio ele seria pior ou mesmo inexistente.
Todo o argumentário exposto pretende mostrar que
não
há exploração absoluta – no sentido de que quem está
mal poderá não ficar melhor pelo facto de não se estabelecer o comércio –,
mas abre a porta à convicção de que existe pelo menos uma exploração
relativa, expressa pelo facto de os frutos desse comércio serem gritantemente
aproveitados de modo desigual pelos “mais fortes”.
|