|
3.4.
OS
ESPAÇOS FORA DA
EUROPA
|
Na perspectiva de internacionalização das empresas portuguesas, surge naturalmente a ideia do investimento em áreas exteriores à Europa, na senda, aliás, da sua vocação centenária.
De facto, a realidade tem mostrado que as óbvias diferenças culturais não têm sido um obstáculo intransponível à presença empresarial portuguesa fora da Europa.
Isso não impede de se avaliar o que tem sido o padrão dos investimentos exteriores das empresas portuguesas nesses espaços, procurando identificar zonas de concentração e de "ausências", com o fito de encontrar eventuais razões de natureza cultural para justificar esse padrão e, se possível, superar as diferenças
detectadas.
É certo que não é óbvia a legitimidade de ultrapassar eventuais diferenças culturais, podendo antes
contrapor-se uma estratégia central predominante no lançamento de projectos em áreas culturalmente afins.
Esta mesma problemática esteve presente de forma implícita há anos, a propósito de uma iniciativa tripartida que reuniu empresários, Administração Pública e Universidades, para um estudo das potencialidades de negócios na República Popular da China.
De facto, várias entidades reagiram negativamente à perspectiva, argumentando que aquele país, para além de longínquo, era demasiado grande para as nossas possibilidades, e que só os grandes países e as grandes empresas transnacionais tinham condições para aí realizarem negócios estrategicamente consistentes.
Para além de o estudo proposto ter revelado que assim não era - e o acompanhamento interessado da representação diplomática chinesa em Lisboa e das autoridades chinesas na República Popular da China foi prova, pelo menos, das potencialidades existentes - alguém, na altura, o defendeu com a afirmação de que
"Nós somos suficientemente pequenos para não podermos desperdiçar qualquer oportunidade, onde quer que ela
esteja!".
Como é óbvio, esta é uma visão da colocação de empresas pequenas de um pequeno país no contexto da globalização existente que assume com clarividência que as estratégias de foco num determinado espaço geográfico têm condições de sucesso para aqueles que podem ter presença forte nesse espaço e têm dimensão suficiente para o fazer.
Ao contrário, os de menor dimensão têm que optar pelos pequenos espaços abertos onde possam afirmar a sua presença sem dominância.
Esta abordagem não implica (antes pelo contrário, como a experiência chinesa bem o revelou) que o conhecimento cultural não seja relevante para essa afirmação, valendo a pena olhar para os outros espaços fora da Europa como entidades culturais muito diferenciadas que, por isso mesmo, oferecerão condições heterogéneas relativamente à capacidade de aí se concretizarem projectos de investimento.
Assim, segundo V. Simões (1998), é bem claro que o Investimento Directo no Estrangeiro feito por empresas portuguesas está fundamentalmente situado próximo de Portugal ou em países com afinidade linguística com Portugal. A União Europeia acolhe cerca de 75% das subsidiárias das empresas portuguesas (a Espanha, só por si, acolhe um terço do total), enquanto os Países Africanos de Expressão Portuguesa e o Brasil acolhem quase 20% das subsidiárias.
Estes resultados mostram bem o que tem sido relevante para o lançamento de projectos portugueses de internacionalização, as proximidades geográfica e cultural, verificando-se que frequentemente esta arrasta aquela, não sendo o inverso necessariamente verdadeiro.
De facto, pouco mais de 5% dos investimentos são dirigidos a outros espaços, tornado claro que o foco cultural se impõe naturalmente e que é preciso alargar os horizontes para ir à procura das tais oportunidades a não perder, ao mesmo tempo que se aprofundam as ligações culturais existentes que ajudam ao sucesso dos empreendimentos já em operação ou decididos.
Nesta perspectiva, vale a pena ter em atenção espaços específicos que evidenciam experiências culturais diferentes e se podem antecipar como áreas de conquista ou de aprofundamento de projectos internacionais.
Como exemplos prospectivos dos espaços "conhecidos" e expressões privilegiadas dessa proximidade cultural temos em África os Países Africanos de Língua Oficial Portuguesa e o Brasil na América Latina, enquanto a Espanha é bem o exemplo da proximidade geográfica, sem embargo de existir proximidade cultural.
E pode ser através dessa proximidade cultural que se parte à procura do encontro de outros projectos em ambientes culturais diversos, como os casos de Macau e de Timor para a Ásia (porventura, incluindo Goa), sendo importante reconhecer as características culturais, diferenciadas em todo o mundo, porque não é possível investir contra as culturas que acolhem o investimento.
É por isso que, sem entrar em profundidade nas características culturais dessas regiões, para o que não temos nem o conhecimentos nem as vivências adequadas, procuraremos fazer uma abordagem preliminar dessas diferenças, com base na história da presença portuguesa e dos pontos de contacto culturais específicos que hoje podem assumir expressão visível no contexto da globalização.
Escolhemos, para isso:
-
a África Sub-Saariana, dada a presença dos Países Africanos de Língua Oficial Portuguesa;
-
o Brasil e o seu enquadramento na América Latina;
-
a Ásia, pela sua dimensão e expressão no futuro e pelos pontos de contacto com a cultural portuguesa;
-
o Magrebe, aqui tão ao lado, por vezes tão esquecido, e ao qual nos ligam laços históricos incontornáveis.
|
A ÁFRICA
SUB-SAARIANA
|
Em relação a África, toda a avaliação do potencial sucesso de projectos internacionais assenta num julgamento baseado em raciocínios típicos da
cultura ocidental, falho na atenção especial às características específicas dos povos desse continente.
É possível que se verifique uma certa confusão entre características culturais e aspectos meramente conjunturais ligados ao subdesenvolvimento que, uma vez superado, fará desaparecer alguns deles.
Mas os equívocos persistem, mesmo quando utilizamos este paradigma, pois o conceito de subdesenvolvimento, invocado pelo presidente Trumann dos Estados Unidos da América, surgiu por referência a um padrão de desenvolvimento que era o tipificado pelos E.U.A.
Mas há que reconhecer que este facto não é senão a ratificação de um processo de
aculturação que as potências colonizadoras impuseram, em lugar de prosseguirem um processo de
inculturação . Ao contrário da aculturação,
a inculturação seria capaz de conjugar os valores da novidade ocidental com as características específicas desses povos, com inteiro respeito pelas tradições, sem as abafar e impor uma
cultura nova. . Ao contrário da aculturação,
a inculturação seria capaz de conjugar os valores da novidade ocidental com as características específicas desses povos, com inteiro respeito pelas tradições, sem as abafar e impor uma
cultura nova.
Este comportamento histórico está talvez na raiz do dilaceramento desse Continente, de onde foram apagadas muitas referências e se "oferecem" outras que lhes são estranhas.
Em conferência realizada em Lisboa, há poucos anos, o presidente do British Ethics Institute afirmava que não se pode enviar um jovem com um MBA a África com o mandato de fazer negócios na condição de nunca dar "luvas". Segundo ele, essa seria uma "Missão Impossível".
Será essa uma característica cultural (estará ela muito afastada dos "pagamentos" que se fazem aos intermediários na cultural ocidental?) ou antes uma verdadeira corrupção, resultante do tal rompimento do quadro de valores de referência?
A Time (25.10.1999), abordando o problema da emergência das Bolsas de Valores na África Sub-Saariana, referia que:
"as acções africanas estão muito baratas, especialmente para as subsidiárias locais das multinacionais."
[o sublinhado é nosso]
Como referia um analista britânico,
"estamos a conseguir uma governação empresarial ocidental e padrões de
contabilidade com valorizações africanas [o sublinhado é nosso], o que configura um caminho seguro."
Só que, como diz a Time:
"segurança é um termo relativo nestas paragens. Na prática, raramente existem controlos para regular os jogadores nestes mercados, de modo a eliminar a fraude."
E, depois, vem a receita:
"Os governos e reguladores africanos ainda necessitam de reduzir os custos de transacção, acelerar os procedimentos, melhorar o acesso à informação e fortalecer os serviços de corretagem."
Como podemos verificar, uma completa alienação dos problemas da cultura local, sem pôr em causa a necessidade de melhorar a eficiência e a segurança das transacções. Mas o que significa para um africano "acelerar"? E os "procedimentos" serão exactamente os mesmos em todo o lado? E o que é para um africano um "corretor", isto é, que funções e que "legitimidades" tem no exercício dessas funções?
Estas referências evidenciam à saciedade o que é e qual a profundidade da aculturação em África. Talvez possamos mesmo dizer que nessa zona se manifesta com maior veemência toda a força e toda a perversão da globalização que aí começou a ser, de facto, ensaiada há séculos.
Mas as empresas portuguesas e, sobretudo, muitos portugueses, com a experiência que têm da sua vivência em África, poderão encontrar alguns caminhos na lógica de inculturação que tornem os seus projectos de investimento uma aventura verdadeiramente partilhada.
A insistência em projectos de aculturação só dá, como é bem evidente no texto da
Time, vantagem às grandes empresas multi ou transnacionais.
Saber contrariá-la é, possivelmente, ir ao encontro das necessidades de desenvolvimento de África, como começam a entender os líderes locais, se atendermos à posição assumida por 53 membros da Organização de Unidade Africana, no dia 2 de Dezembro de 1999, a propósito da Conferência Ministerial da Organização Mundial do Comércio em Seattle:
"Não há transparência nos processos, os países africanos foram mantidos à margem e até excluídos dos temas de importância vital. Rejeitamos o tipo de abordagem e sublinhamos que, nas condições actuais, não podemos participar nos consensos necessários para atingir os objectivos desta Conferência. Estamos profundamente preocupados com as intenções expressas de conseguir um texto final a todo o custo e, em particular, sacrificando os métodos que visam garantir a participação de todos os membros da Organização Mundial do Comércio (OMC) e o consenso."
Esta dura posição está em linha com o diagnóstico da OMC feito pela ACEP (Associação para a Cooperação entre os Povos), no
África Hoje. Afirmava que "A Organização Mundial do Comércio tem regras que favorecem 'naturalmente' os países
industrializados", justificando ao mesmo tempo, o júbilo do Ministro do Comércio do Senegal que, perante o insucesso de Seattle, afirmou:
"Estamos diante do primeiro sinal, da primeira indicação de que as coisas mudaram. E de que a nossa força
cresceu".
Por isso mesmo, lançar projectos internacionais em países africanos sem atenção a este conflito potencial em que se confundem, num sincretismo inevitável, diferenças de culturas, diferenças de desenvolvimento e preconceitos resultantes da história, será um erro irremediável. A menos que se trate de projectos de "desnatação", do tipo "tenda de beduíno", para explorar vantagens conjunturais na mera lógica do lucro rápido e grande (mas por isso mesmo de elevado risco), que não estão na nossa mente quando pensamos em projectos internacionais.
|
O BRASIL E A
AMÉRICA
LATINA
|
Num plano diferente, mas com iguais raízes, temos o Brasil e, de um modo mais alargado, a América Latina em que o Brasil se integra, se não como potência dominante, pelos menos como espaço de maior peso, bem visível, aliás, na configuração do Mercosul.
Diferentemente de África, há uma organização mercantil bem mais visível, com grandes empresas de expressão mundial, mas cujos traços culturais têm algumas semelhanças com África, em particular no que toca à maior franja - a menos favorecida - dessa sociedade dual que é a brasileira.
Nesse país, grandemente diversificado e, portanto, com diferentes portas de entrada, existe uma elite com hábitos e visões bastante ocidentalizados, configurando parcerias facilmente concretizáveis. No entanto, não se deverão alienar as possibilidades de bom acolhimento de projectos de liderança portuguesa, sobretudo nos estados brasileiros de menor desenvolvimento.
Independentemente destas generalidades, há uma característica muito específica do desenvolvimento empresarial brasileiro, a assinalar enquanto expressão "quase cultural" e a levar em conta por todos os potenciais investidores portugueses no Brasil:
o peso das Empresas Familiares Brasileiras na estruturação e no desenvolvimento da economia. Nesse particular, recomenda-se um livro recente, coordenado por Ives Martins, Paulo de Menezes e Renato Bernhoeft (1999), a todos os potenciais investidores, dadas as indicações relevantes sobre os fundamentos culturais desse tipo de empresas. Nele são desenhadas as origens, o perfil e as perspectivas dessas empresas, em particular os temas que cobrem a sua reestruturação, que passa pela opção venda/fusão.
Respigando alguns pontos em que o elemento cultural nos parece mais preponderante,
socorremo-nos da contribuição de António Vidigal ("As origens da empresa familiar brasileira") inserta nesse livro, para fazer ressaltar, à guisa de aperitivo, alguns desses elementos.
O ponto de partida do seu estudo tem muito que ver com a presença portuguesa no Brasil, pois afirma que:
"na origem da empresa familiar brasileira estava a capitania hereditária, primeira forma de empreendimento privado que tivemos"
defendendo ainda que:
"a mentalidade proteccionista e cartorial trazida pela coroa de certo modo persistia até aos dias de hoje, e, aliada ao sentimentalismo e paternalismo nas relações familiares, causou um enfraquecimento que está pondo em risco a sobrevivência das nossas empresas, e que somente sobreviverão aquelas que souberem se modificar e adaptar aos novos tempos."
Mostra depois como essa fase foi confrontada com o que designa "os primeiros pioneiros da modernização", demonstrando as profundas ligações europeias a essa modernização, mas evidenciando bem a capacidade local de nela participar activamente:
"Costuma-se dizer que a industrialização veio junto com a onda de imigração europeia no final do século passado e no começo deste. Isto é verdade se considerarmos o grande surto industrial ocorrido principalmente em S. Paulo, liderado pelos empreendedores vindos, a maioria deles, de Itália. Todavia, é importante lembrar que tivemos alguns pioneiros genuinamente
brasileiros. [o sublinhado é nosso]"
|
|
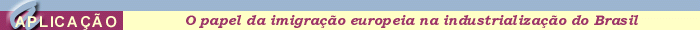
"Um caso interessante é o de um jovem português que chegou ao Brasil com dez anos de idade, na década de 1880, e que acabou se estabelecendo na cidade de Sococaba. Ele se chamava António Pereira Ignácio, e o empreendimento que começou com uma banca de sapateiro é conhecido hoje como Grupo Votorantim (…)
Dezenas de outros casos desta geração poderiam ser citados. Em S. Paulo, principalmente na indústria têxtil, os italianos como os Crespi, os Giorgi e tantos outros, tiveram um papel muito importante. No Rio de Janeiro foi um emigrante português que fundou o Bangu, importante tecelagem que durou cem anos até quebrar na década de 1980. Em Pernambuco o imigrante sueco Lundgren criou o que viria a ser o império das Casas Pernambucanas, que sobrevive até hoje. Em Santa Catarina os irmãos alemães Hering fundaram a tecelagem que ainda leva o seu nome. No Rio o espanhol Larragoiti fundou a Sul América Seguros, que ocupa papel de liderança até hoje. Muitas dessas são empresas fundadas há mais de cem anos."
Fonte: Vidigal, António, "As origens da empresa familiar brasileira", in Martins, I.; Menezes, P.; Bernhoeft, R., 1999.
|
|
A descrição de António Vidigal e a "caixa" com casos tirados do seu estudo mostram bem o entrosamento da
cultura empresarial europeia na economia brasileira e, ao mesmo tempo, evidenciam aquilo que poderemos considerar um traço comum com a presença portuguesa na evolução dos mercados africanos. Não se tratou, fundamentalmente, de projectos de investimento de internacionalização. Foi antes um processo de criação de empresas a partir de dentro do país de acolhimento, por parte de cidadãos portugueses (e europeus) que decidiram
fixar-se aí. Trata-se, na verdade, de uma presença vivencial e não de um projecto "estrangeiro", isto é, "alheio", o que mais fortemente evidencia os laços culturais comuns e a possibilidade já não só de "fazer coisas no outro lado", mas de "fazer coisas em comum" sobretudo naquelas regiões que também tenham algo de comum connosco.
Aliás, é bem de ver que as experiências convivenciais portuguesas e brasileiras, mesmo em termos económicos, passam muito mais pelas pessoas que pelas empresas e são os cidadãos de um país que trabalham no outro e
vice-versa, sem que isso arraste necessariamente um projecto de investimento. Só que nesta "era do saber e da informação" este é um potencial de convivência cultural e de conhecimento comum que não pode ser alienado.
Também essa herança da presença europeia justifica, ao contrário do que se poderia esperar, uma maior intensidade nas relações económicas do Brasil com a União Europeia do que com os EUA e a tendência de boa parte dos líderes económicos e intelectuais brasileiros a
voltar-se mais para a Europa que para os EUA como parceiro privilegiado, como pudemos verificar em Setembro de 1999, em Brasília, no Congresso
Portugal-Brasil, Ano 2000 - Sessão de Economia.
Sintetizamos, de seguida, alguns pontos desta proximidade cultural apresentados nesse encontro (J. Amado da Silva, 1999), que levantam algumas hipóteses de cooperação entre os dois países, atentas as suas semelhanças e diferenças:
-
Mais relevante do que discutir a eventual "perifericidade" de Portugal na Europa face à "centralidade" do Brasil na América Latina, é, na comparação
Portugal-Brasil, a "dimensão relativa" dos dois países face à economia mundializada. Portugal é pouco mais do que "um ponto" num mapa, sendo "atravessado" por todos os fluxos económicos quase instantaneamente, situação caracterizada pela enorme abertura da sua economia.
Em contrapartida, o Brasil é um espaço físico e humano que representa uma "mancha bem visível" no mapa da globalização e para o qual o aprofundamento da integração interna continua a ser prioridade essencial. Daí decorre ser o Brasil uma economia bem mais fechada, quiçá exageradamente fechada, a ponto de uma maior participação nesta economia globalizada poder ser encarada como "motor" da densificação da sua economia doméstica.
-
A globalização não eliminou as vizinhanças, sejam as geográficas, sejam as culturais.
Se nos padrões de investimento estrangeiro português a proximidade geográfica é bem acompanhada pela cultural, na economia brasileira joga a proximidade geográfica - e a sua integração no Mercosul é disso prova -, mas não sem que a proximidade cultural emirja com expressões porventura inesperadas, como é o caso de a União Europeia aparecer como principal parceiro comercial e os PALOP se afirmarem, crescentemente, como zonas privilegiadas do investimento brasileiro.
Neste particular, os interesses de Portugal e do Brasil coincidem e há que explorar as potencialidades de ambos, ancorados nesta proximidade cultural.
-
Tal como referiu Daniel Bessa nesse encontro, "cabe a Portugal e à Espanha o dever de promover, no âmbito da União Europeia, o ambiente mais favorável ao aprofundamento das relações entre a União Europeia e a América
Latina", atrevendo-nos, no entanto, a sugerir a presença da Itália, que tem uma forte implantação nos países do Mercosul e cuja
cultura não entra em conflito frontal com as culturas ibéricas, antes as completando.
Esta posição coloca o Brasil como parceiro de Portugal na busca da afirmação económica, por via das afinidades culturais, em toda a América Latina.
|
A ÁSIA
|
Procurar falar de uma cultura asiática entendida como um todo seria um erro só comparável a ignorar as suas expressões crescentes no
mundo.
Para o cidadão comum existe, no entanto, mesmo que mal definida, uma noção da diferença cultural que se traduz na designação genérica de "oriental" relativamente à "nossa", a "ocidental", sendo que a essa ideia de "oriental" está frequentemente associada a sensação de "exotismo", se não mesmo de "longínquo".
Se esta ideia de distância geográfica tem sido atenuada pela presença de bens e produtos "orientais" em ritmo crescente na economia portuguesa e pelo turismo, a ideia de distância "cultural" continua a prevalecer, mas sem uma distinção clara entre os vários tipos de "Oriente". E, no entanto, essa diferença real tem que ser entendida por quem tem a expectativa de explorar qualquer "esforço negocial" onde quer que ele exista. Em particular, os portugueses têm como poucos ocidentais, ou mesmo nenhuns, vivências dessas diferenças, traços culturais próprios que não se extinguiram e que vale a pena retomar, numa perspectiva integradora de globalização em que as diferenças se manifestem através das cumplicidades culturais.
Retomando a perspectiva histórica, os focos da cultura portuguesa encontram-se bem marcados nos vários "subcontinentes" que são a expressão mais profundamente dimensional da Ásia, como é o caso da China através de Macau, da União Indiana através de Goa e mesmo da
ex-Indochina através de Malaca, sem esquecer, é claro, a ponte que Timor pode representar para a Austrália, através das "ilhas asiáticas".
Estas referências, que podem saber a "saudade histórica" sem qualquer hipótese de sedimentação no presente, têm, todavia, o objectivo de apontar potenciais âncoras de partida (não necessariamente de sucesso), e sobretudo o de evidenciar áreas culturais bem diferenciadas, embora não completamente alheias à experiência histórica portuguesa.
Em particular, reconhecer-se-á a enorme densidade contextual dessas culturas como ponto comum. Disso é maior exemplo o "guanxi" chinês, em que o contacto pessoal e as ligações entre as pessoas valem muito mais que qualquer coisa escrita, bem como a lógica paternalista e familiar que prevalece no campo económico e político (dificilmente discerníveis em muitos casos), como são exemplos claros o "chaebol" da Coreia do Sul e o poderoso Ministério da Indústria e do Comércio Internacional (MITI) do Japão, para já não falar da enorme promiscuidade entre os partidos do poder e o ambiente negocial, mesmo em áreas onde a democracia está presente.
Apesar desta tendência comum, há diferenças acentuadas fruto não só das idiossincrasias regionais que geram culturas muito próprias, mas também da história de convivência (ou ocupação) mais aberta ou mais fechada às influências externas, designadamente no século XX.
Por isso é natural que o contexto cultural da União Indiana seja menos denso que o chinês, dada a enorme influência inglesa a que a China foi claramente mais fechada, até pela relativa homogeneidade histórica dos impérios que ajudaram a cimentar a sua unidade.
Daí que um projecto internacional na União Indiana, desde a sua negociação até à sua operação, tenha contornos radicalmente diferentes de outro na China, atentas as condições políticas e hábitos negociais cimentados em contextos culturais bem diferenciados.
No entanto, numa perspectiva estratégica, há que reconhecer que a "potência dominante" da zona é o Japão, mesmo que essa dominância esteja em causa pela recessão continuada sentida na zona e até, em boa parte, pela relativa dificuldade que o Japão teve em reagir aos mais recentes desafios da globalização - porventura em consequência das suas especificidades culturais, minadas ou, pelo menos, fortemente desafiadas por um contexto mais aberto para o qual o país nunca se preparou.
Efectivamente, nas décadas de 70 e 80 a economia japonesa floresceu através das suas exportações e dos investimentos no estrangeiro. Estes últimos tiveram a rara qualidade de enveredar por processos próximos da lógica de inculturação e, por isso mesmo, foram mais bem acolhidos pelas regiões hóspedes, que inclusivamente endogeneizaram vários tipos de instrumentos de gestão japoneses.
Contudo, a essa presença no exterior não correspondeu uma tão grande abertura do espaço económico, e até cultural, japonês aos produtos e investimentos estrangeiros, o que poderá ter contribuído para a manutenção de expressões culturais demasiado fechadas face às exigências da globalização, em particular a capacidade de aceitar
interfaces susceptíveis de plasmar culturas diferentes.
Para os portugueses terem uma imagem mais apropriada desses traços culturais e das exigências negociais que eles impõem, nada melhor que a leitura de Adriano Freire (1995) que aí fez o seu doutoramento e viveu a experiência empresarial durante vários anos.
Refere A. Freire que "a cultura e sociedade nipónica moldaram ao longo dos anos o estilo de gestão das empresas, da mesma forma que o apoio governamental contribuiu, sob vários aspectos, para o reforço das suas posições
internacionais", evidenciando bem a cumplicidade entre o mundo da política e o mundo negocial, mesmo que ele saliente que, "em última análise, são os produtos e as empresas, não os países, que competem nos mercados".
Com isso quer mostrar a receptividade dos consumidores e dos trabalhadores estrangeiros, respectivamente, aos produtos e aos métodos de trabalho e de gestão nipónicos, sem deixar no entanto de acentuar que "a
cultura local é reflectida no comportamento dos recursos humanos nas organizações nipónicas e nos padrões de compra dos clientes
domésticos", tendo estes constituído, cremos nós, uma boa base para a afirmação dos produtos japoneses no mundo.
Como fundamento para esse profundo entrosamento entre cultura e comportamentos empresariais, A. Freire põe ênfase no elevado nível educacional e na ética do trabalho do povo nipónico, aliás condição imprescindível de sucesso num país completamente devastado pelos horrores da II Guerra Mundial, portanto sem recursos financeiros, a par de uma relativa pobreza em recursos minerais e uma geografia adversa do ponto de vista agrícola e comunicacional.
Daí que A. Freire caracterize o sistema económico japonês como estando fundado em "sistemas empresariais [que] têm um carácter profundamente humanista, reconhecendo o primado das pessoas sobre os factores materiais de produção",
reflectindo a gestão das organizações nipónicas "a importância relativa dos recursos humanos através da atribuição de um estatuto privilegiado à função
pessoal".
Reconhece ainda a natureza cultural de elevado contexto reflectida no facto de as relações informais terem estado na base da reconstrução dos grupos horizontais japoneses no
pós-guerra.
Abre também a porta à necessidade de mudança e aos desequilíbrios e contradições que o Japão tem sofrido mais recentemente ao afirmar que
"desde meados dos anos 80, a necessidade de integração das operações domésticas com as subsidiárias no estrangeiro tem dado origem à revisão da filosofia e espírito de várias empresas
nipónicas".
Estas observações, aliadas às pressões para a mudança apresentadas na Aplicação que se segue, dão bem conta dos desejos que a globalização suscita mesmo às culturas de contexto mais denso.
|
|
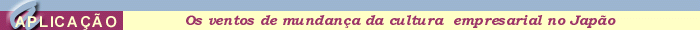
Segundo a Business Week (25.10.1999), as pressões que se sentem no Japão sobre o tradicional "emprego para toda a vida" estão a
reflectir-se também no equilíbrio dos casamentos.
Assim, os assalariados japoneses defrontam um duplo e simultâneo desafio: o da luta no seu local de trabalho, afectado pela chamada reestruturação a que correspondem cortes salariais, e o da luta no próprio lar, na medida em que as esposas reequacionam o seu posicionamento relativamente aos maridos, dada a nova situação em que estes se encontram.
Tal como é descrito na revista, citando uma jovem japonesa recentemente casada com um europeu, "no passado, as mulheres
dedicavam-se à família enquanto os homens se concentravam no trabalho e, deste modo, a sociedade progredia. Só que esta estrutura está hoje em completa ruptura", um outro sinal evidente da mudança no Japão.
Além disso, a mesma revista refere que a "Mania da Internet" está a difundir-se rapidamente na Ásia, com os investidores em capital de risco a comprarem grossas fatias das acções dos portais dirigidos à atracção da atenção dos consumidores.
A par disso e talvez ainda com maior peso, há que destacar o comércio electrónico
inter-empresas que cresce a elevado ritmo, pondo em causa os velhos métodos asiáticos do secretismo negocial, intolerável em termos de Internet.
Contudo, reconhecem-se vários obstáculos ao triunfo destas novas práticas negociais, porque os empresários preferem as negociações face a face e têm maior confiança nas relações cultivadas ao longo do tempo do que naquelas que se concretizam através de intermediários que nunca conheceram.
Enquanto alguns empresários asiáticos defendem que é preciso uma profunda mudança cultural para colocarem informação sensível na Internet, especialmente nas empresas familiares habituadas ao segredo negocial, outros apostam na mudança de atitudes.
|
|
O nosso foco no Japão não significa que esse país possa ser considerado como
o destino (ou o parceiro) privilegiado dos projectos internacionais portugueses
nessa área. Apenas pretende alertar para o seu peso em toda a Região do
Pacífico e, sobretudo, ilustrar a pressão que a globalização
exerce sobre as culturas, mesmo as de maior tradição e densidade contextual.
Veja-se como essas culturas, que resistiram durante séculos a tentativas de aculturação por parte dos ocidentais, até pelo profundo e milenário enraizamento das tradições nos seus povos, com efeitos bem mais positivos do que em África ou na América Latina, parecem indefesas face aos desafios da globalização.
Exactamente porque se espera uma reacção de afirmação das diversas culturas apesar dessas ameaças, é fundamental para qualquer potencial investidor nessa zona (ou que procure parceiros dessa zona) conhecer os elementos culturais com que sinta maior afinidade e que, em conjunto, abram perspectivas a uma cooperação frutuosa.
Importa, no entanto, perceber que não será fácil encontrar estes espaços numa área em que a pressão demográfica e os efeitos de demonstração associados à globalização, e para aí transportados pelas grandes multi e transnacionais, estão a criar o mais duro cenário competitivo (sobretudo através de cortes nos preços) a que o mundo tem
assistido.
|
O MAGREBE
|
Quando se afirma que a internacionalização das empresas é pautada pela proximidade cultural ou geográfica e se refere, ainda por cima, com ou sem razão (sobretudo sem!), que Portugal é um país de elevada "perifericidade" no contexto europeu, não podemos deixar de nos interrogar sobre se o Magrebe "aqui tão perto" não tem todas as características de "catálogo" implícitas nessa proximidade, sobretudo porque elimina a tal "perifericidade" portuguesa através do meio que sempre nos pôs no "Centro" do Mundo - o Mar.
Será que à pequena distância geográfica se opõe uma grande divergência cultural que anula a relativa proximidade geográfica?
Olhando para o actual perfil cultural dos Países do Magrebe há, de facto, alguns motivos para recear esta possibilidade, sobretudo se se tiver em conta o peso que a antinomia religiosa joga na falta de diálogo cultural, quando não mesmo no conflito cultural e social.
A presença dominante, quase exclusiva mesmo, do islamismo no Magrebe, atingindo foros de extremismo na Argélia e, em parte, na Líbia, veiculado pelo fundamentalismo islâmico, levanta várias dificuldades ao diálogo, sempre difícil ao longo dos séculos, com as culturas mediterrânicas europeias, de matriz católica.
E, no entanto, há fortes interesses comuns em todos os países da Bacia Mediterrânica, alicerçados, além disso, num passado histórico comum, mesmo que conflituoso, como atestam os inúmeros vestígios da presença portuguesa em Marrocos, bem como da espanhola e sobretudo da francesa.
Apesar dos conflitos e até de algumas relações de colonialismo do passado, não há dúvida de que existe uma história de diálogo intercultural (mesmo que difícil) e que, num mundo em globalização, a redescoberta das proximidades clama pelo avivamento desse diálogo e da procura do que é comum.
Foi nesse sentido que a União Europeia relançou a política de cooperação com os Países Terceiros Mediterrânicos (PTM), de início através de meros Acordos de Associação bilaterais exclusivamente centrados no comércio externo, depois através de Protocolos Financeiros e culminando com a aprovação da Política Mediterrânica Renovada (PMR), que entrou em vigor em 1992.
Em Novembro de 1995, em Barcelona, foi-se mais longe com a aprovação dos princípios da Associação
Euro-Mediterrâneo (AEM), orientada por três vertentes essenciais: a de política e segurança, a
económico-financeira e a de âmbito social, cultural e humano.
A vertente económico-financeira teve uma expressão específica em Julho de 1996, quando a União Europeia aprovou o Regulamento MEDA (Medidas de Acompanhamento Financeiras e Técnicas), assentando preferencialmente no Investimento Directo Estrangeiro.
Isto significa que existem mecanismos comunitários que incitam os investidores portugueses ao aprofundamento desta proximidade,
impondo-se, antes de mais, uma melhoria do conhecimento das culturas e das condições económicas e sociais locais que, aliás, podem vir de par com a crescente presença de turistas portugueses nessa zona, apesar da relativa instabilidade social e política de certas áreas.
Nesse contexto, o estudo de Helena Rato (1998) é uma contribuição valiosa, ao abordar o desenvolvimento económico dos países do Magrebe nos últimos trinta anos e os meandros da política de cooperação da União Europeia com essa zona. Salienta-se, em particular, o modelo de especialização e de integração da zona na economia mundial, bem como um estudo do investimento estrangeiro.
Relativamente a este último, e mais em sintonia com a temática da gestão de projectos internacionais, H. Rato destaca a relativa falta de atractividade para o investimento estrangeiro, visto
corresponder-lhe apenas uma quota de 0,3% do estoque mundial do Investimento Directo Estrangeiro. Além disso, apesar da sua pouca expressão quantitativa, o IDE
concentra-se fundamentalmente na exploração de matérias-primas e nas actividades trabalho intensivas, tirando proveito da utilização de mão-de-obra barata.
Isto significa, afinal, que há espaço para uma cooperação com um menor sinal de exploração e, ao contrário, uma maior valorização do Valor Acrescentado na zona.
Contudo, não podemos deixar de alertar para uma ausência perigosa no levantamento das condições económicas no Magrebe, na senda, aliás, dos paradigmas metodológicos que a elas têm subjazido e que, implicitamente, homogeneízam todas as áreas em estudo, alienando ou minorando as vertentes sociais e culturais.
Se essa opção é sempre, a nosso ver, uma omissão não despicienda, ela é, neste caso, um erro muito perigoso, porque se as potencialidades são muitas, os escolhos culturais são de monta. O reforço da cooperação económica depende curialmente do reforço da cooperação cultural que a tem que preceder e na qual é mister investir todo o esforço.
|
|