|
4.2
ÉTICA E
RESPONSABILIDADE PESSOAL
|
É evidente de toda a discussão anterior que as diferenças culturais mais relevantes se vão traduzir no campo ético, no modo como este condiciona a formação da responsabilidade pessoal e até como esta é "controlada" pelo conjunto da sociedade.
Como salientam Anne Marie Francesco e Barry Gold (1998), a grande
questão que aqui se levanta é a querela entre o
relativismo ético e o universalismo ético, sendo que o primeiro ainda pode ser encarado na perspectiva individual ou na perspectiva cultural.
|
|
|
|
|

|
Relativismo ético individual é o ponto de vista segundo o qual não há princípios absolutos que definam o que está errado ou certo, ou o que é bom ou mau, em qualquer situação social. Nessa condição, são os indivíduos que determinam o que está certo ou errado em qualquer situação. No limite, esta definição defende que a ética é um julgamento pessoal independente dos valores e normas sociais.
|
|
|
|
|
 
|
Relativismo ético cultural é a doutrina segundo a qual o que está certo ou errado, ou o que é bom ou mau depende de cada cultura específica. Se os valores de uma dada sociedade consideram certos actos como moral e eticamente correctos, então eles constituem um comportamento aceitável dentro dessa sociedade.
|
|
|
|
|
 
|
Universalismo ético é a doutrina que defende que há regras éticas objectivas e universais profundamente enraizadas dentro de cada cultura que se aplicam a todas as sociedades.
|
|
|
|
|
Como salientam os referidos autores, os filósofos moralistas rejeitam o relativismo ético, com base em que a investigação antropológica demonstra que os comportamentos numa gama variada de sociedades que parecem ser não éticas ou imorais à luz de uma dada perspectiva cultural - habitualmente o "filtro" é a chamada cultura ocidental - reflectem posições bem mais próximas do que parece, se se for investigar bem os aspectos radicais das motivações para os comportamentos.
Contudo, continuam os mesmos autores, para as organizações empresariais o relativismo moral é particularmente apelativo, sobretudo quando as culturas empresariais e negociais dos outros têm aspectos difíceis de entender e de interpretar.
De facto, esse relativismo permite à organização usar o seu próprio padrão ético para pautar o seu comportamento, sem que isso seja socialmente inaceitável.
Mas há outra razão, porventura mais compulsiva que a anterior: a relutância em dar vantagens competitivas a culturas que conduzem as suas actividades negociais segundo critérios pautados por menores exigências éticas e morais, na perspectiva da organização.
Temos aqui um conjunto de querelas, umas de índole filosófica, outras de índole operacional, com exemplificações da realidade actual que nos ocorrem, por certo, sem qualquer esforço, e que mostram bem o papel definitivamente relevante do conteúdo ético de uma organização, sobretudo tendo em atenção o nosso tema, o desafio que é posto pelo projecto internacional.
Uma das questões imediatas é: mantemos a mesma cultura ética em todos os locais ou
adaptamo-nos às características éticas de cada cultura
local?
Poderá parecer que com esta pergunta se respondeu negativamente à existência de um universalismo ético, mas não tem que ser necessariamente assim, se as diferenças a aceitar correspondem a traços culturais locais que, no mais profundo da sua motivação, não colidam com os grandes valores éticos perfilhados pela organização e pela sociedade.
Atente-se no facto de que a "Declaração Universal dos Direitos do Homem" e outras "declarações universais" que se lhe têm seguido buscam, no fundo, encontrar esses fundamentos comuns de todas as culturas para pautar um conjunto mínimo de regras universalmente aceites.
É claro que os defensores do Relativismo vêm nestas declarações uma tentativa de domínio cultural de uns sobre os outros a quem, valoradamente, pretendem impor os seus critérios: as discussões sobre democracia, trabalho infantil, direitos das minorias, normas de higiene e segurança e defesa do ambiente são exemplos claros desse conflito.
Em termos de organização empresarial também pode não existir conflito entre esse "universalismo interno", que levará ao estabelecimento de um quadro de valores de referência de grande generalidade, e a "descentralização cultural" que o projecto internacional pressupõe, se aceitar jogar com as regras que a inculturação exige.
Sem entrar em maiores discussões sobre o universalismo ou o relativismo ético e independentemente da lógica prevalecente, queremos sublinhar que os efeitos são sempre sentidos e tratados ao nível da Ética Empresarial. Esta assume-se, assim, como uma nova área de investigação em pleno desenvolvimento que, no fundo, pretende balizar os termos da responsabilidade individual e empresarial.
É nesse sentido que se desenvolvem os diversos estudos que reflectem o efeito da abordagem ética sobre o comportamento organizacional quer a nível de empresa, quer a nível do indivíduo, passando depois desta discussão para uma abordagem mais operacional - e obviamente relevante do ponto de vista do projecto internacional - de como ultrapassar eventuais conflitos éticos na relação entre duas culturas organizacionais diferentes.
|
A RESPONSABILIDADE
SOCIAL DAS
EMPRESAS
|
As empresas confrontam-se habitualmente com dois paradigmas de responsabilização, sempre conflituais. Segundo Francesco e Gold,
"nenhuma delas pode ser considerada melhor que a outra por qualquer processo de demonstração científica".
Estão aqui bem marcados os traços metodológicos do "cientifismo natural" e, implicitamente, a negação do universalismo ético e até dos fundamentos de economia política - a que faz uma escolha perante alternativas conflituais à luz de um conjunto de objectivos socialmente definidos.
Essas duas alternativas de responsabilização são a Perspectiva da Eficiência e a Perspectiva da Responsabilidade Social.
|
|
|
|
|
 
|
A Perspectiva da Eficiência defende que a obrigação das empresas é maximizar os lucros dos accionistas.
|
|
|
|
|
 
|
A Perspectiva da Responsabilidade Social defende que a responsabilidade dos gestores não é exclusivamente para com os accionistas mas para todos os stakeholders (todos aqueles que estão em relação com a empresa, como sejam os fornecedores, os clientes, os empregados e a comunidade local).
|
|
|
|
|
Daqui decorrem comportamentos empresariais radicalmente diferentes.
Na Perspectiva da Eficiência, uma empresa não tem que preencher as necessidades de determinado segmento da sociedade, por exemplo, reciclando embalagens para dar satisfação aos ambientalistas, a menos que isso crie valor para os accionistas. Nesse sentido, a responsabilidade social é apenas função do governo e não das empresas.
Esta posição -, hoje manifestamente prevalecente na operacionalidade que a globalização impõe - tem subjacente que a empresa é propriedade exclusiva dos accionistas e só o maximizar o valor destes interessa. Tudo deve ser submetido a este interesse (por vezes "míope" porque esquece perspectivas de longo prazo), incluindo o próprio desaparecimento por venda ou desmembramento da empresa, se isso convier aos accionistas.
Onde está aqui a empresa como "comunidade"? Como falar nesta situação de "cultura de
empresa"?
Ao contrário, a Perspectiva da Responsabilidade Social forja laços de comunidade, de "eu" nos "outros" na lógica de C. Hardy que reclama, com justeza, a necessidade de definir a "cultura de empresa".
É certo que é uma abordagem mais problemática, menos mecanicista e menos simplista como destacava Sen, porque é difícil identificar todos os
stakeholders e construir uma função objectivo que permita uma liderança clara.
Mas não nos parece que seja ético fugir a este desafio, passando para a outra perspectiva pela mera lógica da operacionalidade, quando esta é sempre em favor de uns e à custa de outros. Quer se queira, quer não, há uma filosofia ética subjacente que é francamente discutível e garantidamente não universalizável.
É claro que o gestor de um projecto internacional tem que conhecer o paradigma ético das empresas em vigor na sociedade, ou nas sociedades em que se pretende instalar - se é que existe esse paradigma - de modo a
adequar-se a ele, sem trair os seus próprios pressupostos éticos, o que nem sempre é fácil.
Por exemplo, se num dado país é normal a existência de trabalho infantil, devo eu
incorporá-lo no meu projecto, ou rejeitá-lo?
A perspectiva social parece que, em princípio, aconselharia a sua não utilização, devido à carga de exploração que se pensa universalmente associada ao trabalho infantil.
É um bom exercício de reflexão para o investidor internacional e que desafia claramente os conceitos que vimos discutindo.
Estamos convencidos que, nas raízes mais profundas de cada cultura , todos concordamos que as crianças são a maior riqueza potencial dos países. Por isso, há que as "cultivar" e investir nelas, não as "exaurindo" antes de tempo (isto mesmo numa mera perspectiva económica), sem dar relevo ao simples valor da fruição da vida em liberdade e lazer das crianças enquanto objectivo social.
Só que esta "universalidade de motivações" esconde as diferentes realidades. Na maioria das situações essa "cultura das crianças" é inexplicável porque não há condições mínimas de subsistência e o seu trabalho é necessário para
sobreviver.
Não se trata, pois, de escolher como viver, mas apenas de assegurar que se está vivo, sendo portanto profundamente farisaicas as abordagens que defendem a exclusão pura do trabalho das crianças, sem criarem condições para que elas vivam.
Ao gestor internacional põe-se o problema de saber discernir quando se está em presença de exploração (que pressupõe violência sobre as crianças, existindo alternativas para que tal não suceda) ou de sobrevivência.
Contudo, se a visão que prevalece nele for a da eficiência, essa distinção nem é necessária, pois o accionista escolherá a que lhe proporcionará melhores lucros, independentemente do que acontece aos valores culturais em causa. Ele só alterará o seu comportamento se a pressão social (local ou internacional) ameaçar esses lucros, directa ou indirectamente, e a defesa da sua imagem só se fará nos termos estritos em que assegure a maximização desses mesmos
lucros.
Como é evidente, esta perspectiva só é compatível com uma abordagem de aculturação, ou nem isso, pois pode procurar
manter-se alheia ao problema cultural desde que não surjam conflitos significativos.
A abordagem de inculturação só seria possível com uma visão de longo prazo, em que o investidor antecipasse que a cedência parcial à cultura dos outros lhes traria bons frutos no futuro. Só que isso impõe compromissos irreversíveis e abdicações de lucros de curto prazo que as elevadas taxas de actualização de muitos investidores não conseguem endogeneizar.
É óbvio que, ao contrário, a perspectiva da responsabilidade social estimula o processo de inculturação, pois só este garante a proximidade com os interesses dos
stakeholders. Do mesmo passo, incentivam-se os modos de entrada que privilegiem parceiros locais capazes de assumirem culturas organizacionais com visões aproximadas, ressalvadas as diferenças específicas que podem ser enriquecidas e não fontes de antagonismo.
Neste ponto é interessante saber como se posicionam as empresas portuguesas. Em trabalho publicado (J. Amado da Silva, 1997) com base em inquéritos realizados junto de empresas portuguesas cotadas em Bolsa, foi possível identificar alguns traços do que as empresas
alegam ser a sua visão e o seu comportamento no domínio ético.
Tentaremos dar o retrato capturado e as suas fragilidades descrevendo o que designámos por "Considerações Finais", em que procurámos relevar os aspectos essenciais fazendo apelo ainda a alguns resultados particularmente interessantes:
"Os resultados apresentados devem ser lidos, não como um retrato fiel do nível ético do comportamento negocial em Portugal, mas tão só como um primeiro esboço dos contornos, ainda muito esbatidos, desse comportamento, desenhado pelas opiniões de pouco mais de meia centena de Administradores e Quadros Superiores de empresas que, dada a sua natureza, maior nível de exigência ética devem revelar.
Esta precisão é importante [porque](…) umas das particularidades deste inquérito reside na clara identificação do responsável pelas opiniões emitidas, questão fulcral, e tantas vezes esquecida, em inquéritos cujas respostas são, inexoravelmente, de natureza subjectiva e, ainda por cima, em que a entidade que emite as respostas não é independente das respostas dadas, já que é parte interessada nas mesmas,
avaliando-se a si mesma ou à instituição a que está contratualmente, ou por direito de propriedade, vinculada.
(…) Um resultado bem evidente é que a auto-avaliação é bem melhor que a
hetero-avaliação, isto é, não só a própria empresa é considerada como tendo um comportamento claramente mais ético que o dos seus concorrentes, como os Administradores consideram ter maiores preocupações éticas que os outros "constituintes" internos.
Esta diferença entre a auto e a hetero-avaliação pode traduzir (…) a realidade existente, quer porque as empresas em apreço são as que têm razões (e até incentivos) para assumir comportamentos mais éticos (dada a sua visibilidade), quer porque os Administradores, pelo seu próprio posicionamento pessoal, mas também institucional, serão os primeiros a ter de assumir e pôr em prática essas mesmas preocupações. O facto de os códigos de ética mais divulgados e discutidos serem (…) os que norteiam o comportamento dos órgãos de governo das empresas é disso prova evidente."
Muito curiosa é a posição face à lei, com a generalidade das empresas alegando dever cumprir a lei, mesmo não concordando com ela.
Levanta-se aqui um problema de relação entre a legalidade e a legitimidade ética, que nem sempre são coincidentes, problema para o qual um gestor de projectos internacionais tem que estar particularmente atento.
É que a lei não pode ser confundida com a Ética, não só porque não a esgota, mas também porque pode mesmo entrar em conflito com ela. No limite, poderemos ter um "criminoso ético" - aquele que viola a lei porque esta lhe impõe um comportamento ético que considera inaceitável (o caso de Thomas More pode aparecer como paradigmático).
Como é natural, um empreendedor internacional tem que estar particularmente atento a este problema que interpenetra razões éticas com posições institucionais, a rever no Capítulo 5.
Um dos aspectos mais interessantes do inquérito é o que confronta as empresas com a sua responsabilidade social, um verdadeiro teste à perspectiva da responsabilidade social.
O que avulta numa pontuação média do comportamento sempre elevado (valores médios claramente acima de 4, numa pontuação de 1 a 5) são algumas excepções a esse valor, que indiciam uma preocupação e uma motivação bem menores por esses problemas, atento
ainda o facto de estarmos em presença de opiniões e não de atitudes.
As excepções, pela valorização menos positiva, recaem:
-
em evitar negócios onde não se respeitem os direitos humanos (média de 3,6);
-
na responsabilidade social da empresa perante os seus trabalhadores no que toca ao
-
cumprimento da lei e no combate ao desemprego (média de 3,5);
-
na preocupação de evitar a queda do desemprego (média de 3,6);
-
no respeito pelo meio ambiente (média de 4,0).
Em contrapartida são evidenciadas fortíssimas preocupações éticas no que toca:
-
ao evitar negócios ilegais;
-
na prevenção do roubo e da corrupção;
-
na partilha de responsabilidades.
Estas posições de princípio, se se materializarem efectivamente, indiciam uma razoável perspectiva de responsabilidade social da empresa e respondem com vigor a alguns dos pontos que os manuais de comportamento organizacional internacional levantam como fonte de controvérsia intercultural.
De facto, Francesco e Gold (1998) trazem para a ribalta das questões éticas interculturais, no âmbito do desenho da Ética Organizacional, problemas como o roubo, o suborno, a corrupção e a venda de produtos perigosos, bem como o uso internacional da fraude e da intimidação nas relações
negociais.
A julgar pelos padrões éticos assumidos no inquérito, os empresários portugueses não estariam dispostos a pactuar com atitudes negociais desta natureza, devendo por isso excluir localizações alternativas em que tais atitudes passam por normais.
Claro que isto levanta o problema de deixar o campo aberto a outros com menores preocupações éticas, sobretudo se atendermos ao facto de algumas zonas potenciais de investimento privilegiado terem posturas éticas muito contestáveis ou, mais claramente, uma quase total ausência de postura ética, em consequência da dilaceração do tecido social por guerras sucessivas e intermináveis.
|
|
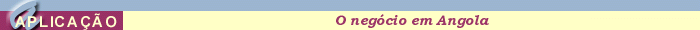
"Nenhum mucubal come um boi de óbito, de forma que vendem o animal barato, às vezes por 400 mil kwanzas. A mesma cabeça, na Namíbia ou em Luanda, rende 80 ou 90 milhões. Tem vez até arranjarmos eles virem matar os animais ao Namibe, ao Dinde, só demoram três dias a
trazê-los em manada. Chegam, ficam com os chifres e nós com a carne toda.
Mesmo os animais comprados fora do óbito dão dinheiro - Bué. A cabeça fica a 14 milhões e nem é preciso pagar em dinheiro. Um bidon de 25 litros de vinho
custa-nos no Namibe 7,5 milhões e meio. Cinquenta litros fica a 15 milhões e isso dá para dois ou três bois de 80 milhões. Às vezes compramos um cabrito por um garrafão de canhombe.
Nas cavernas do posto de Namibe assisti à produção de canhombe: dois bidons velhos, um tubo de cobre, uma fogueira acesa por baixo do bidon com cereal fermentado. Eis um alambique. Não há nenhum controlo de alcolémia e, portanto, o canhombe mata de vez em quando. No entanto, como me contaram nas cavernas, - felizmente isso não acontece tanto e o que tem mais frequência é o canhombe
deixar-te cego.
Não provei.
Chiquinho e Elvis tinham dólares nos olhos.
-
Dez litros, que são dois garrafões ou três milhões,
trocam-se por um garrote, assim um boi maiorzinho que um vitelo. O garrote em Luanda pode
dar-nos 25 ou 22 milhões. Lá em cima, com os mucubais, também se troca 20 quilos de massango por um boi. E esses 20 quilos a nós podem
custar-nos apenas 10 milhões.
O óleo é dinheiro ainda mais fácil:
-
Em Luanda, uma
garrafa-de-cerveja de mupeque (três garrafas não fazem sequer um litro)
vende-se por dois e meio. Quanto ao tinto, compramos no Namibe um garrafão de cinco litros por 1,925 milhões e em Caiton vendemos um milhão
por litro…
Os dois da Cruz Vermelha olharam com respeito para os jovens empresários. As meninas que iam, duas graças da Bibala, encararam também de outra forma."
In Pedro Rosa Mendes, Baía dos Tigres.
|
|
Os outros aspectos levantados por eventuais conflitos éticos interculturais, designadamente a propriedade intelectual (que continua muito mal tratada em Portugal) e o respeito pelo ambiente (com uma valorização relativamente menos comprometida), não pareceram ser obstáculo de tomo, tanto quanto o não são na base doméstica.
Já quanto às características especificamente internas do país hóspede que podem levantar problemas éticos, designadamente a discriminação de qualquer natureza, a segurança e a higiene no trabalho, os níveis salariais de exploração e o trabalho infantil que, em certas sociedades são não só éticos, mas legais, não é claro qual o posicionamento alegado pelos empresários portugueses, embora uma declaração muito forte sobre o evitar negócios em zonas onde os direitos humanos não sejam respeitados pudesse sugerir uma abordagem cautelar e eticamente responsável.
Mas aí a "competição" dos outros investidores pode jogar forte. Como referem Francesco e Gold:
"na perspectiva ocidental muitos países subdesenvolvidos pagam salários inaceitavelmente baixos. Contudo, quando as empresas ocidentais transplantam para aí as suas instalações de produção, o que fazem é reforçar esta prática. Deve
notar-se que em sociedades mais avançadas, por exemplo, os Estados Unidos da América, ainda existem condições de sweat shop em áreas urbanas habitadas por populações imigrantes."
O investidor fica manifestamente com um problema ético por resolver em que se digladiam, de novo, as perspectivas de eficiência e de responsabilidade social. Pode nesta última visão
admitir-se pagar um melhor salário, até para estimular o aumento de produtividade, mas isso conduzirá eventualmente, no imediato, a menor remuneração para o accionista e até a perda de competitividade se os outros o não seguirem.
Fazê-lo mesmo assim decorrerá do imperativo ético do investidor (e da possibilidade de o concretizar, fortemente dependente do grau de competição) e ainda da valorização que a sociedade hospedeira dá ao seu gesto.
De uma forma ou de outra, o investidor não pode ignorar estes aspectos na decisão que vier a assumir.
Regressando ao inquérito, existe aí um pequeno conjunto de perguntas que visa investigar as atitudes assumidas numa perspectiva de compromisso ético. Assim:
"naquilo que podemos designar por 'custo de se comportar eticamente', 50% (contra 41%) dos inquiridos declaram ter conhecimento de alguma decisão em que as razões éticas determinaram a eliminação de um negócio, enquanto todos entendem que a empresa se deve submeter a princípios de natureza ética, mesmo que tal implique custos ou redução de lucros. A generalidade (92%)
manifesta-se por tal comportamento sempre, a maioria por uma questão de princípio, uma minoria alargada (cerca de 40%) porque o comportamento ético é rendível a prazo, na maioria dos casos, em simultaneidade com a defesa do princípio."
De novo, se estas disposições fossem levadas à prática no projecto internacional estava praticamente ultrapassado o dilema acima posto face às condições pouco éticas frequentemente existentes nos países hóspedes do projecto.
Sabemos bem que o problema não tem uma solução assim tão simples, mas vale a pena
confrontarmo-nos com a imagem que temos de nós próprios antes de avançarmos para decisões difíceis.
É óbvio que está fora dos planos deste pequeno manual aprofundar todo o problema da ética empresarial, até porque o nosso objectivo específico é investigar as eventuais diferenças internacionais com efeitos sobre a organização do projecto internacional.
Mas não se podem identificar as diferenças sem uma exacta definição dos conteúdos, pelo que um razoável conhecimento da Ética Empresarial é uma boa ferramenta para um empreendedor ou um gestor de um projecto internacional.
Neste particular salientamos Michael Hoffman e Roberto Frederik (1995), cujo manual tem tido edições sucessivamente actualizadas, com incorporação de casos interessantes que originam revisão metodológica, e que no prefácio da primeira edição (1984) assumiram como ponto de partida o aviso de Cícero: "Para todo aquele que quiser ter uma boa carreira, a filosofia moral é indispensável."
Defendem agora que essa visão continua válida e baliza o seu compromisso em continuarem em busca da união entre a ética e o negócio.
Vejamos como chegam ao conceito de ética negocial:
"O negócio é uma teia complexa de relações humanas - relações entre produtores e consumidores, empregadores e empregados, gestores e accionistas, membros das empresas e das comunidades locais onde operam.
Estas são relações económicas, criadas pelas trocas de bens e serviços. Mas são também relações morais. Questões ligadas ao lucro, ao crescimento e ao avanço tecnológico têm dimensões éticas."
Neste contexto, definem:
|
|
|
|
|

|
Ética empresarial é um ramo da ética aplicada que estuda a relação do que é bom e correcto para a empresa.
|
|
|
|
|
Daqui retiram o corolário: a empresa é uma instituição económica, mas, à semelhança da economia como um
todo, tem um fundamento moral.
O leitor estará a interrogar-se, naturalmente, sobre o porquê desta reflexão, que pode parecer fora do sítio quando já desenvolvemos várias páginas de comportamento empresarial numa perspectiva ética.
É que, provavelmente, e essa é uma contribuição específica que temos procurado dar nos últimos anos, estamos a passar ao lado da discussão das verdadeiras raízes do fundamento ético, apenas afloradas em Charles Andy e tão esquecidas quando se trata de Adam Smith.
E essas têm que ver com o fundamento moral da economia, "posto para baixo do
tapete", como alerta A. Sen, pela abordagem mecânica dominante, mas que Hoffman e Frederik invocam, mesmo que depois se centrem na ética empresarial sem explorarem totalmente as conexões radicais entre ambas.
|
ÉTICA
EMPRESARIAL SEM
ÉTICA ECONÓMICA?
|
O problema acima levantado surgiu-nos no decurso do estudo do inquérito sobre o comportamento ético das empresas portuguesas que já referimos e foi, depois, depurado na preparação da "Oração de Sapiência", em Dezembro de 1997, na Universidade Autónoma de Lisboa.
No referido trabalho sobre o inquérito, referíamos haver uma questão prévia e crucial a responder:
"Pode haver ética nos negócios se a sociedade globalmente não tem padrões éticos elevados, designadamente quanto à natureza do Paradigma económico dominante?
Por outras palavras: poderá haver Ética nos Negócios, se não houver 'Ética Económica'?"
Curiosamente, invocámos Hoffman e Frederick (1995) para evidenciar a necessidade desta conexão. Estes, referindo o caso de empresas que poluem as águas, na mira da maximização do lucro, defendem que essas acções são eticamente inaceitáveis, mesmo que estejam conforme à lei, com base na convicção de que "a busca dos lucros da empresa não justifica essas
acções"; se assim for, então:
"a maximização dos lucros nas acções negociais (uma das hipóteses basilares do Paradigma da concorrência e do liberalismo) não é sempre justificada."
E não podem fugir à tentação de fazer uma longa citação de um economista muito esquecido mas cada vez mais actual,
Jean-Maurice Clark (1916), que afirmava nessa altura:
"Há 20 anos atrás se um economista escrevesse sob este título [A Base para a Mudança de Responsabilidade Económica]
esperar-se-ia que tratasse, principal ou exclusivamente, de responsabilidade individual do seu próprio destino (…)
[Contudo] temos ido atrás de uma revolução no pensamento e na política.
Afastámo-nos bastante do individualismo estrito em direcção a um sentido de solidariedade e de inclinação social
[social mindedness]."
E explicita:
"O desemprego era considerado fundamentalmente um problema de adequação pessoal [personal fitness] e do desejo de trabalhar [willingness to work], agora é olhado como doença do nosso sistema económico."
(E vão lá 80 anos!)
Em termos de Paradigma económico, explicita sob a epígrafe "Responsabilidade e Economia Liberal":
"Em comparação com o âmbito da responsabilidade aqui concebida e apresentada, a economia do
"laisser-faire" pode bem ser caracterizada como uma economia de irresponsabilidade, e o sistema negocial do contrato livre é, também, um sistema de irresponsabilidade, se julgado pelo mesmo padrão.
(…) A economia liberal ou economia dos negócios [business economics] chega, em geral, ao mesmo resultado que a teoria estática - não nega as responsabilidades sociais,
ignora-as em grande parte -, por separação muito estrita dos negócios do resto da vida. 'Negócio é negócio' e homens com preocupações altruístas noutros campos,
deixam-nos, neste, completamente de lado (…)
Com esta ideia perigosamente inadequada da negociação de um contrato e com igual ideia não adequada de concorrência negocial, como uma espécie de batalha Darwiniana pela sobrevivência, tendendo constantemente para a selecção natural dos que melhor se adaptam, é de pouca relevância saber se o homem de negócios está empenhado na actividade social. Por outras palavras,
a teoria e a prática [o sublinhado é nosso] combinam-se para uma ainda maior atitude de irresponsabilidade quer entre os dirigentes dos trabalhadores, quer entre os dos empresários."
E conclui:
"Clamar por 'justiça, não caridade' pode encobrir uma boa dose de histeria e errada inclinação, mas também tem um fundamento sólido em bases científicas, e o modo de matar esta histeria é investigar, com espírito aberto, exactamente qual é esse fundamento sólido. Essa é a tarefa dos peritos e dos especialistas."
Mais de oitenta anos depois, temos de convir que estamos perante um texto premonitório dos efeitos que a globalização cega pode acarretar, invertendo a tendência detectada então por J. Clark de surgimento de preocupações pelos efeitos sociais do funcionamento do mercado e do comportamento empresarial.
É com esse espírito, e tendo em consideração os instrumentos da teoria económica utilizados mais modernamente para discutir o funcionamento do mercado, sobretudo as estratégias empresariais, que invoco A. Sen a propósito do privilégio da abordagem mecânica, procurando responder ao apelo que F. Lucas Pires (1998) fazia lapidarmente num dos seus últimos escritos, com o objectivo de superar este fosso:
"No plano económico, precisamos de demonstrar que a virtude também é mais competitiva que o vício e evitar que este explore aquela (…)."
Foi na resposta a esse apelo que surgiu a reflexão mais aprofundada sobre as relações entre as propostas estratégicas da Teoria de Jogos e o comportamento empresarial, isto na perspectiva da ética empresarial, sendo de notar desde já que, mesmo assim, continuamos a discutir mais a metodologia operacional da economia - aquela mais estritamente ligada ao comportamento - e menos os objectivos últimos dessa actividade:
"O ressurgimento, recente e em grande força, da teoria dos jogos no campo da economia, com especial relevância na microeconomia, mais empenhada na descrição dos comportamentos dos agentes e bem menos nas suas motivações, é um exemplo flagrante desta prevalência mecanicista, ela mesma ratificada, se não mesmo endeusada, pelo triunfo exclusivista do mecanismo de mercado, que tem tornado
economicamente incorrecta qualquer abordagem alternativa que tenha veleidade de pôr em causa os seus méritos. As suas falhas, mesmo que reconhecidas
à boca pequena, não parecem legitimar que se ponham em causa os seus resultados e mesmo os remédios para essas falhas devem ser, preferencialmente, procurados em metodologias próximas das que descrevem o mercado e não nalguma fonte que o aliene radicalmente. Em particular, não se questionam os dados de partida, nem as noções de eficiência centradas em dotações iniciais de recursos e muito menos a legitimidade das repartições de rendimento a que esse mecanismo conduz. No máximo fala-se, vagamente, de processos de redistribuição que se não asseguram e que assentam, sempre e afinal, na decisão daqueles a quem os mecanismos directos de distribuição favorecem.
O uso actual da teoria dos jogos (e saliento o actual e não o potencial que retomarei adiante) é o paradigma desta dominância, levada até a extremos que a própria teoria inicialmente alienava. Com efeito, quem se debruçar sobre os manuais de microeconomia e de organização industrial mais recentes, para já não falar nos artigos dominantes nas revistas, terá fortes possibilidades de encontrar logo de início, à guisa de chave-mestra, um capítulo intitulado
Teoria dos Jogos não Cooperativos. O que choca não é a invocação da Teoria dos Jogos como meio de descrição e de resolução de problemas económicos para o que, em particular no que toca à descrição, está muito bem apetrechada, mas sim a alienação, metodologicamente inaceitável, de uma vertente da Teoria que os próprios fundadores, von Neumann e Morgenstern, desenvolveram e que, aliás, surgirá com toda a naturalidade da tentativa de resolução de um jogo. Efectivamente, definindo este como uma situação cuja solução é
co-determinada pelas acções dos jogadores perseguindo interesses em conflito, todos sabemos que esses conflitos se podem resolver pela confrontação ou pela cooperação. O povo, na sua sabedoria milenária, aconselha, sabiamente: se não podes vencer o inimigo, alia-te a ele.
A não consideração dos jogos cooperativos aparece, assim, como uma inaceitável castração metodológica, tanto menos admissível quanto é certo que o assunto temático que mais serve de referência de partida à formulação e resolução da teoria dos jogos é, exactamente, o dilema do prisioneiro, em que as alternativas de cooperação e de não cooperação surgem com grande evidência. Isso só pode ser explicado pela preocupação exclusivista com a competição, entendida como a expressão mais genuína da busca dos interesses individuais, sem concessões nem atenções, implícitas ou explícitas, aos interesses de outrem. E daí a fuga à consideração, em plano formalmente idêntico, dos jogos cooperativos. Só que essa fuga, se existe, radica num profundo equívoco, porque não belisca, nem levemente, a busca da maximização dos interesses individuais, não tendo implícita qualquer fundamentação de natureza ética, que venha perturbar e confrontar, pelo menos em princípio, a abordagem mecanicista e a busca da melhor realização do interesse individual. Com efeito,
um jogo cooperativo é aquele que tem uma função característica - a relação que descreve os resultados que cada jogador pode auferir do jogo nas diversas combinações alternativas possíveis -
sobre-aditiva, isto é, o valor da actuação em conjunto é superior à soma dos valores a receber por actuações não concertadas. Obviamente, a busca da maximização do interesse individual apontaria, inexoravelmente, para a actuação concertada e para a prevalência de jogos cooperativos em muitas situações e, consequentemente, para a sua relevância metodológica.
Isto não significa que os jogos cooperativos não tenham sido desenvolvidos, mas apenas que não têm tido em Economia, ao contrário do que vem acontecendo noutras ciências sociais, a atenção que mereciam. Creio, contudo, que esse apagamento relativo radica no facto de, ao contrário do que parece
em princípio, os jogos cooperativos levantarem sérios problemas éticos, exactamente na área em que o modelo dominante menos à vontade se sente - o da repartição do valor gerado. E o problema ético é aqui particularmente agudo porque se trata de discutir não uma partilha do necessário, digamos assim, mas do
excedente, na medida em que a não cooperação real num jogo potencialmente cooperativo, que acaba por acontecer frequentemente, - e a Teoria dos Jogos Cooperativos mostra bem como são poucos os casos em que a atitude cooperativa é estável e, portanto, durável - se deve à discordância sobre o modo de repartir o que se ganharia a mais do que se se tivesse jogado isoladamente. Isto significa que se destrói uma cooperação em que, garantidamente, todos ganhariam mais porque
o outro pode ficar, no meu critério, melhor do que eu. A tão decantada racionalidade económica, pedra-de-toque de toda a estrutura da Teoria dos Jogos, está aqui, claramente, posta à prova e é uma evidência que não se sai bem, legitimando até o famoso título de um dos muitos artigos de Amartya Sen sobre este problema da hipótese da racionalidade económica:
Os Idiotas Racionais (1997), em que, assumidamente, critica a concepção do comportamento na teoria económica. Importa é salientar que a não cooperação pode afinal ser o resultado não da busca independente do meu bem, mas do efeito negativo que tem sobre o meu bem o crescimento do bem dos outros. E isso é rigorosamente descrito por um termo:
inveja. Adam Smith (1976), tão maltratado pela corrente económica dominante, não esquece o papel desta característica humana no comportamento das pessoas. Diz ele, na sua esquecida obra
A Teoria dos Sentimentos Morais, que, quando há inveja, não há qualquer propensão para ter simpatia com o sucesso dos outros. Esta afirmação configura uma posição que Foldvary (1994) classifica como de
apatia, querendo significar a neutralidade face ao que acontece a outrem, afinal característica do modelo de concorrência dominante na economia moderna, sendo, a meu ver, relativamente benigna para o verdadeiro invejoso, para quem, de facto, o sucesso dos outros tem implicações negativas na sua
utilidade. Efectivamente, esta inveja activa configura antes o que Foldvary designou por
antipatia, descrevendo esta como a posição de alguém que vê a sua utilidade aumentar com o mal dos outros. Nesta situação, prejudicar deliberadamente um concorrente pode ser útil por duas vias: por aumentar, directamente, o que se ganha e, indirectamente, pela utilidade que se aufere pelo prejuízo infligido ao outro. A expressão mais benigna de neutralidade traduz-se, muitas vezes, por recusar uma cooperação, mesmo que promissora,
porque depois nos vamos desentender. A expressão menos agreste de antipatia será a que tantas vezes ouvimos -
"já que não é para mim também não é para ele" - que, obviamente, destrói todas as possibilidades de cooperação, e a expressão mais violenta desta antipatia pode ser traduzida pela forma, também, infelizmente, demasiadas vezes ouvida,
"nem me importo de perder, desde que ele também perca", situação esta que exclui, obviamente, à partida, quaisquer hipóteses de cooperação.
Não considerar estas facetas do comportamento humano na formulação dos jogos que visam descrever os fenómenos económicos é, com certeza, irrealista e empobrecedor, mas é bom não esquecermos que estamos apenas no mero campo dos comportamentos que visam a maximização dos interesses egoístas, já que os interesses dos outros terão, na melhor das hipóteses, um tratamento neutral.
É esta preocupação de completo desligamento do que acontece aos outros que está patente nas diversas soluções de equilíbrio que se pretendem atingir nos jogos não cooperativos, já que elas são caracterizadas pela escolha do que melhor (muitas vezes apenas o menos mau) nos possa acontecer, independentemente daquilo que os outros fizerem. Como é óbvio, se é esta a preocupação dominante, então a lógica cooperativa perde naturalmente peso na expressão corrente da ciência económica.
E não deixa de ser curioso verificar que, ao mesmo tempo, emergem preocupações cooperativas, com visibilidade significativa no campo da gestão empresarial que, assim, parece ir à frente da corrente económica, talvez porque a necessidade de resolver os problemas concretos do
dia-a-dia lhes mostre o lado egoísta da cooperação, que espero ter já bem evidenciado na definição de jogo cooperativo. Assim, surgem conceitos como
co-opetition (A. Brandenburger e B. Nalebuff, 1996), traduzindo uma mistura de cooperação e competição, centrando-se, fundamentalmente, na ideia de que é preciso cooperar para poder competir (e o que será de uma empresa que não consiga a cooperação dos seus componentes?), e de
co-evolution (James Moore, 1996) que, assumindo a enorme velocidade de mudança institucional que hoje é inevitável, reconhece que essa mudança será gerida vantajosamente, percebendo as diversas interdependências que se manifestam numa evolução que tem muitos traços comuns, levando à formação de parcerias e, em particular, à expressão mais actual da cooperação na interdependência que dá pelo nome de redes. A importância destas é de tal monta que já se desenvolve a economia das redes, uma outra faceta, não irrelevante, da nova economia, sendo apresentada como panaceia para defrontar a incerteza e o risco daí decorrente que a celeridade da evolução acarreta. O nó górdio do seu sucesso ou insucesso reside, também e inapelavelmente, na resolução de uma equitativa distribuição do valor gerado no interior da rede, se é que, mesmo antes, não surge irresolúvel a questão da exacta definição dos direitos de propriedade, condição necessária, posto que não suficiente, para identificar critérios para o desenho da distribuição do valor gerado.
Mas o avanço no campo da gestão vai mais longe e estende-se, também e exactamente, à área da ética. É bem sabido que se, recentemente, muito se tem falado de ética, tem sido ao nível empresarial, com ênfase particular nos chamados códigos de conduta, ou códigos das boas práticas, e, nas Universidades, é nos cursos de Gestão, e não nos de Economia, que pululam as disciplinas de ética, nomeadamente com as designações de ética empresarial ou ética dos negócios. Pensando bem, isto não pode constituir surpresa, porque o conteúdo desta ética é de carácter marcadamente utilitarista, procurando, designadamente, garantir a coesão interna e a cooperação no seio da empresa, ambas ameaçadas pela lenta destruição do conceito de empresa como comunidade, substituída, crescentemente, por um conjunto de direitos de propriedade transaccionáveis no mercado, ainda por cima cada vez mais mundializado. Além disso, não põe em causa o paradigma dominante, conformando-se com a versão mecanicista da Economia, porque visa desenhar regras de comportamento que não põem em causa a métrica e a fundamentação da criação de valor, nem tocam nos problemas da sua distribuição.
Em termos da teoria dos jogos, tratar-se-á de filtrar as diferentes alternativas estratégicas por este crivo deontológico, eliminando, eventualmente, aquelas que agridam padrões de comportamento estabelecidos nesses códigos de conduta. Não estou a negar o mérito desta abordagem, nem a considerar não ser este um passo relevante no campo dos negócios, tanto mais que a sua aceitação generalizada e a sua aplicação em concreto vão impedir que em negócios vale tudo, ou que
os fins justificam os meios, o que, em termos de expressão valorativa do comportamento, não pode senão ser exaltado. Neste mesmo sentido, Sen (1991) faz notar que, mesmo que os jogadores não integrem os objectivos de outrem nos seus próprios, o simples reconhecimento de interdependência pode sugerir o respeito de certas regras de comportamento que não têm, necessariamente, um valor intrínseco, mas que têm uma grande importância "instrumental" na promoção efectiva dos objectivos dos membros do grupo, assumindo-se, assim, uma vertente social do comportamento do jogador, mesmo que não explícita.
O que quero afirmar é que continuamos sem interpelar os fins que norteiam a actividade económica, que assentam afinal na já referida racionalidade e que estão subjacentes ao desenho das estratégias presentes nos jogos. Mas, poderia ser de outro modo? Caberá, de facto, aos empresários questionar esses fins? Como já referi (J. Amado da Silva, 1997), será legítimo pedir aos empresários uma reflexão sobre os fins últimos da actividade económica, quando a sociedade e o pensamento económico dominante não o fazem?
 Será legítimo pedir-lhes que meçam o seu triunfo por critérios que a sociedade recusa a assumir como seus? De outro modo e mais objectivo, poder-se-á exigir mais da ética empresarial, quando a ética económica, embora fecundamente cultivada por muitos economistas, não emerge para posição de relevo? Será legítimo pedir-lhes que meçam o seu triunfo por critérios que a sociedade recusa a assumir como seus? De outro modo e mais objectivo, poder-se-á exigir mais da ética empresarial, quando a ética económica, embora fecundamente cultivada por muitos economistas, não emerge para posição de relevo?
Antes de retomar estas questões, importa salientar que não desprezo os excelentes contributos da abordagem mecanicista para o crescimento da riqueza e para o aumento de eficiência de aplicação dos recursos, incluindo os notáveis progressos tecnológicos que originou e incorporou, tal como já aplaudi as preocupações éticas relativas ao aperfeiçoamento dos comportamento.
A minha preocupação reside na definição do valor do jogo, pois este valor é que evidencia o modo como se identificam e valoram os interesses dos jogadores. E é, afinal, esta valoração que traduz o modo como os fins últimos de que fala Sen são, ou não, incorporados nos objectivos da economia.
Chegamos aqui ao ponto crucial da discussão da perda da "alma" da economia (um termo ousado que busca descrever o seu fim último ou objectivo central). Em minha opinião, essa perda traduz-se no deslizamento da fonte ética da economia para a fonte mecanicista. E esse deslizamento, ainda por cima, não se fez sem equívoco, criando imagens distorcidas da realidade, procurando conferir à abordagem eminentemente mecanicista a roupagem da ética que, assim, a legitimaria com mais vigor.
Dois exemplos de natureza diferente traduzem esta apropriação indevida. O primeiro tem a ver com o conceito de "abordagem normativa" e o segundo com o papel implicitamente atribuído a Adam Smith.
No que toca à abordagem normativa, assiste-se à sua identificação não com a discussão dos valores a atingir, mas antes com a adopção de comportamentos capazes de atingir eficazmente um conjunto de objectivos de partida, assumidos sem discussão, mesmo eventualmente contrariando dados observados na realidade através de abordagens positivas. Utilizando modelos de índole teórica, não fundados na observação empírica, e neles incorporando objectivos cujas finalidades não se discutem, usurpa-se a designação de "normativo", procurando conferir aos resultados e aos comportamentos necessários para os atingir um valor imperativo que o "normativo" sugere, eliminando, do mesmo passo, a discussão ética sobre as finalidades desses comportamentos e sobre o mérito desses resultados face às finalidades em discussão.
Quanto a Adam Smith gera-se, por certo, o maior equívoco da ciência económica. Não tenho a mínima dúvida, e já fiz um apreciável número de experiências que o confirmam, que a generalidade das pessoas considerará estar ele na raiz do pensamento dominante e, portanto, na fonte da abordagem mecanicista. Ora este é um erro tremendo, que, ignorado, dá maior força e credibilidade à teoria que se pretende impor.
Com efeito, este mecanicismo radica, integralmente, em David Ricardo e em Leon Walras, que operacionalizaram alguns dos conceitos desenvolvidos por Adam Smith, mas os despiram de preocupações éticas que Adam Smith, de facto, nunca alienou. O pensamento económico de Adam Smith não pode ser reduzido ao que escreveu na Riqueza das Nações. E mesmo aí se encontram reflexões que fazem apelo à introdução da ética na teoria do valor e nos comportamentos no campo da economia. Leia-se com atenção a sua análise das discussões entre patrões e trabalhadores e não ficará a mais pequena dúvida sobre o que defendo. Mas é possível ir mais longe e entrar na já referida obra
A Teoria dos Sentimentos Morais, que, contrariando muitos que pretendem separar o Adam Smith moralista do Adam Smith economista, não pode ser desligada da
Riqueza das Nações. Não se trata aqui de uma interpretação pessoal, mas tão só de aceitar o que ele mesmo nos diz sobre o assunto. Assim, num Aviso que faz na 6ª edição da
Teoria dos Sentimentos Morais refere explicitamente: "No último parágrafo da 1ª edição do presente trabalho eu disse que deveria num outro discurso tentar dar conta dos princípios gerais da lei e do governo e das diferentes revoluções que têm sofrido nas diferentes eras e períodos da sociedade; não só no que respeita à justiça, mas também no que toca à política, rendimento e armas e tudo o mais que é objecto da lei. No Inquérito relativo à Natureza e às Causas da Riqueza das Nações, já cumpri em parte a minha promessa, pelo menos no que respeita à política, rendimento e armas."
Creio que não é mais legítimo separar os "dois" Adam Smith, e, do mesmo passo, separar a ética da economia, sendo, mais que legítimo, imprescindível recuperar os perdidos elementos éticos para o corpo da economia. E nada melhor do que começar pelo princípio, isto é pelo próprio Adam Smith. E o 1º termo que ele nos apresenta nesta obra é a simpatia, a propósito da qual inicia o texto da obra nos seguintes termos: "Por mais egoísta que se considere um homem, há evidentemente alguns princípios na sua natureza que o interessam pela fortuna dos outros e tornam a felicidade deles necessária para si, embora não retire daí nada a não ser o prazer de a contemplar."
Creio não serem necessárias mais citações para perceber qual o entendimento de Adam Smith sobre os interesses das pessoas e os seus reflexos na actividade económica. Mas, para que não restem dúvidas, permitam-me que cite, ainda, o extenso título de um dos capítulos:
"Sobre a corrupção dos nossos sentimentos morais, que são ocasionados por esta disposição para admirar os ricos e os grandes, e desprezar ou dar menor atenção às pessoas pobres ou de média condição."
Definitivamente, na senda de Adam Smith, recolocar a economia no campo ético em que, verdadeiramente, foi concebida é ultrapassar as abordagens
apáticas e passar às abordagens simpáticas, aquelas que, na expressão de Foldvary, se traduzem por incorporar na nossa função de utilidade e com valor positivo aquilo que é útil aos outros. No fundo,
trata-se apenas de incorporar na função de utilidade de cada um expressões normais de utilidade de pertença a grupos, como a família, o bairro, o país, etc.
Do ponto de vista da velha querela sobre interesses e utilitarismo, o problema fica ultrapassado por uma redefinição do que é o interesse e a Teoria dos Jogos, para ser fecunda e útil no novo contexto, só tem que reavaliar o valor de cada alternativa.
E num mundo cada vez mais integrado, caracterizado pelo critério arqui-darwiniano de que
o 2º é apenas o primeiro dos últimos (Robert Frank e Philip Cook, 1995), a única maneira de separar o fosso profundo que ameaça criar-se
entre os poucos que têm muito e os muitos que têm pouco é desenvolver na ciência económica modelos com funções de utilidade que incorporem elementos de cooperação e de solidariedade. A atribuição do Prémio Nobel a Amartya Sen pode ser um bom augúrio para a emergência de uma economia mais ética."
A temática desta "Oração de Sapiência" e os assuntos nela relevados mostram bem a proximidade com as motivações que C. Hardy evidencia para uma nova abordagem do comportamento empresarial, muito centrado na ideia de que "sem o nós eu não sou
eu" e, portanto, de jogos cooperativos. Ou, pelo menos, de uma lógica "cooperativa", isto é, de colaborarmos para melhor podermos competir, criando-se, porventura, desta forma melhores condições para uma concorrência leal - porque a colaboração prévia pode criar compromissos éticos implícitos. e, portanto, de jogos cooperativos. Ou, pelo menos, de uma lógica "cooperativa", isto é, de colaborarmos para melhor podermos competir, criando-se, porventura, desta forma melhores condições para uma concorrência leal - porque a colaboração prévia pode criar compromissos éticos implícitos.
Não chegaremos ao ponto de afirmar que C. Hardy se identifique com a noção de
simpatia de Adam Smith, mas está por certo bem mais perto do que da
apatia subjacente ao modelo de concorrência, com a irresponsabilidade inerente que J. Clark já assinalava certeiramente.
Temos consciência que esta extensa "digressão" pelas fronteiras da ética económica, ultrapassando mesmo a mera abordagem operacional da ética empresarial, poderá parecer estranha e desfocada num manual de gestão de projectos internacionais, mas cremos que ela nos obriga a ir ao fundo dos problemas essenciais que o gestor desses projectos defronta. Por isso mesmo, tendo salientado, no início deste ponto relativo à Ética e Responsabilidade Social, que ela devia ser subdividida entre as empresas e os indivíduos, colocámos a discussão dos objectivos da economia antes de nos colocarmos a responsabilidade ética do indivíduo.
É que é nossa convicção, aliás em sintonia com C. Hardy, que é no indivíduo que nasceram e confluem todos os problemas de comportamento relevantes, mesmo quando sofre (e sofre sempre) as influências dos outros e da sociedade em que se insere, a menos que esta seja tão constrangedora que abafe o próprio indivíduo. Só que, nesse caso, estamos perante a
tirania e ela hoje, infelizmente, espalha-se veladamente sobre a humanidade.
|
ÉTICA E
RESPONSABILIDADE
PESSOAL
|
Os desenvolvimentos anteriores conduzem-nos à formulação da ética individual e da responsabilidade pessoal numa perspectiva muito mais alargada do que a que resultaria do enquadramento em que surgiu, isto é, do comportamento organizacional.
Se procurarmos a visão mais reducionista do comportamento do indivíduo na organização,
encontramo-nos apenas confrontados com problemas como lealdade, seriedade e motivação do indivíduo face aos interesses globais da organização em que se insere e que, obviamente, não são despiciendos do ponto de vista do projecto internacional.
Ao contrário, o gestor de projecto internacional tem que conhecer as características das pessoas (ou dos "recursos humanos" se olhar para elas como factores de
produção) em primeiro lugar, para escolher a localização do seu projecto, e em segundo lugar, para melhorar o desempenho da sua própria organização.
Só que, tal como a organização empresarial tem que responder aos estímulos do meio em que se insere, também o indivíduo tem que o fazer, surgindo outras motivações e lealdades que podem conflituar com as devidas à organização (excepto nas situações de "estar ao serviço da empresa 24 horas por dia" - cujo crescimento se constata e que, curiosamente, parecem ser mais "vividas" (?) pelos quadros superiores - ou da total dependência da empresa para sobreviver, designadamente em casos de pobreza extrema e ruptura de laços sociais); por outro lado, o nível hierárquico da pessoa e o modo como se integra (ou "desintegra") na sociedade
colocam-no diferenciadamente no "mapa" das lealdades e dos compromissos, o que é bem claro na discussão sobre a responsabilidade ética da organização.
Por isso mesmo, norteámo-nos por uma abordagem mais integrada que nos permite tocar em todos estes pontos.
Socorremo-nos como ponto de partida (e tal como fazem Anne Francesco e Gold), da perspectiva da
teoria do desenvolvimento moral desenvolvida por Lawrence Kohlberg (1976). Esta teoria apresenta seis estádios de evolução que os indivíduos vão assumindo, numa sequência invariante e universal, sem embargo de alguns poderem ficar "presos" nalgum desses estádios, situação que corresponderia a um "bloqueamento ético" impeditivo do pleno desenvolvimento pessoal. desenvolvida por Lawrence Kohlberg (1976). Esta teoria apresenta seis estádios de evolução que os indivíduos vão assumindo, numa sequência invariante e universal, sem embargo de alguns poderem ficar "presos" nalgum desses estádios, situação que corresponderia a um "bloqueamento ético" impeditivo do pleno desenvolvimento pessoal.
Os seis estádios são os seguintes:
Estádio 1: a "obediência e castigo". Corresponde a um verdadeiro "estado zero" de partida, onde não há consciência ética, excepto o "saber" que se tem que obedecer a uma autoridade que detém o poder de castigar. É, de algum modo, aquele que leva ao comportamento motivado pelo "medo".
Estádio 2: o "individualismo e reciprocidade". Neste estádio, o indivíduo
rege-se pelo que lhe é agradável (tendo já superado o medo), e o que está certo para ele é o que lhe confere o maior bem. A pessoa percebe que tem que entrar em acordo com outros através de relações recíprocas, mas sempre com o interesse próprio em mira.
Estádio 3: a "harmonia interpessoal". O que está certo para uma pessoa é determinado pelo que dela esperam as pessoas mais chegadas e o público em geral. É um estádio adaptativo em que o "agradar aos outros" surge como determinante.
Estádio 4: o "sistema social", ou seja, "lei e ordem": o indivíduo desempenha o seu papel na sociedade em que se insere, faz a sua obrigação e obedece às regras estabelecidas. Corresponde, no fundo, ao "bom cidadão" em sentido clássico.
Estádio 5: o "contrato social". Neste estádio, o indivíduo interroga-se sobre a moralidade, pondo em causa que ela se restrinja às regras e deveres impostos pela sociedade. O critério usado nesta fase é "o melhor bem para o maior número". De algum modo, podemos dizer que surgem preocupações típicas de um comportamento democrático socialmente responsável, em confronto com o estádio precedente em que se obedece ao sistema social, não o questionando.
Estádio 6: o de "princípios éticos universais". Neste estádio, as decisões morais são tomadas na base de princípios livremente escolhidos e que o indivíduo deseja que possam orientar a vida de todos.
Segundo Francesco e Gold, a maioria dos americanos adultos
fica-se no Estádio 4, o que significa que obedece às regras estabelecidas e se adequa ao sistema social, procurando
mantê-los.
No entanto, alguns adultos americanos atingem o Estádio 5, pelo que acatam a ideia de que há valores morais ou direitos independentes e prévios às leis sociais estabelecidas. Consequentemente, entendem as regras éticas das organizações como construções arbitrárias que podem favorecer um determinado grupo em detrimento do outro, e não como doutrinas apoiadas em princípios éticos universais.
Consideram, finalmente, que poucos americanos atingem o Estádio 6. Esses acreditam num conjunto de princípios éticos de nível mais elevado, que vão bem para além do que a sociedade espera e superam as meras leis do utilitarismo; as pessoas são tratadas como um fim em si mesmas e não como meros recursos de produção, mesmo que esta tenha em vista os objectivos de toda a sociedade.
Por outras palavras, poucas pessoas atingem um estádio de consciência ética que leve a olhar os outros como um valor intrínseco.
Em nosso entender, esta análise da sociedade americana ajuda a fortalecer a visão do perigo do domínio americano e do modelo único político e empresarial que anseiam para o mundo, ou, paradoxalmente, das visões isolacionistas americanas que, de tempos em tempos, irrompem com violência.
É que ambas podem ser explicadas pela dominância do Estádio 4 que aceita o sistema social e que, ao não o contestar e ao querer
preservá-lo a todo o custo, o considera implicitamente o melhor.
Os que receiam que ele possa ser "contaminado" na sua difusão em outros países, ou encontrar resistências que não querem ou não sabem defrontar,
fecham-se nas propostas de isolacionismo.
Os que têm mais convicção na superioridade do seu modelo - e que estão certos da adesão interior a ele da grande maioria - podem
aventurar-se, sem grandes riscos de convulsão interna, pelo menos no plano dos princípios, a tentar difundi-lo para o mundo.
Também se percebe que aí surjam pensadores capazes de criticar o sistema e de olhar o mundo num processo de acolhimento a outros valores que transcendam o "espírito americano". São, naturalmente, bem acolhidos fora dos EUA e nalguns meandros deste país, mas a sua mensagem não é capturada pelo americano comum. Paradoxalmente, parece que as suas visões e propostas poderão ser mais transformadoras fora do seu país que dentro dele.
É evidente que a perspectiva de C. Kohlberg é passível de muitas críticas e levanta interessantíssimos problemas de filosofia e de desenhos de comportamentos extremamente estimulantes, mas que vão bem para além do alcance deste trabalho.
Uma das críticas mais interessantes põe em causa o "processo
sequencial", defendendo antes que, mesmo quando os indivíduos experimentam uma evolução moral e atingem um dado estádio, não se "transportam" completamente para esse estádio, persistindo nele elementos dos estádios precedentes.
Esta crítica, que perfilhamos, é extremamente importante do ponto de vista da gestão de projectos e
lembra-nos a frase certeira de J. M. Clark que já citámos:
"Negócio é negócio e homens com preocupações altruístas noutros campos,
deixam-nos, neste, completamente de
lado."
Veja-se bem como ele diferencia o comportamento (e portanto a assunção da moral) das pessoas nos diversos campos da vida e, o que é mais relevante, atira para os estádios mais baixos o comportamento na área negocial.
É por isso fundamental insistir e desenvolver estas perspectivas, na defesa de uma abordagem ética.
Contudo, se o leitor entender que "negócio é negócio", o melhor é "saltar" já este capítulo (em boa verdade, já o deve ter "saltado"), uma vez que, em termos de projecto internacional, os conselhos são fáceis no que toca aos "recursos humanos" (porque nessa visão não há "pessoas"):
estabeleça-se no sítio onde as pessoas se comportem como no Estádio 1. Aí não haverá exigências, as remunerações serão as mais baixas possíveis e,
cetaris paribus, as mais-valias realizadas serão maiores.
Mesmo assim, permitimo-nos dar-lhe um conselho (se ainda não "saltou" o capítulo): talvez não seja mau ir até ao Estádio 2 ou mesmo 3, porque aí pode ter lugar uma motivação que, posta em equilíbrio com a diminuição da "docilidade", acarretará aumento de eficiência: o "recurso" fica mais valioso, embora tenha consciência disso, e talvez proporcione uma rendibilidade superior ao acréscimo de produtividade que criou.
Se não "saltou" o capítulo, compreenderá que entrámos numa lógica de algum "cinismo" na avaliação do problema e tem razão nisso, mas é um modo, porventura infeliz, de chamar a atenção para o facto de não podermos mesmo ignorar estes problemas, ou seja, de sermos devidamente irresponsáveis, na linguagem crua de J. M. Clark.
Retomando a abordagem de Kohlberg, outras críticas pertinentes se levantam na perspectiva cultural, algumas delas manifestamente objectivas e outras implicitamente eivadas de relativismo ético.
No que toca às primeiras, figura o argumento de que os estádios reflectem o desenvolvimento moral masculino mas não o feminino, que se centra muito no conceito da "atenção" ou "solicitude"
(caring).
Isto significa que os estádios terão sido apresentados numa perspectiva exclusivista de racionalidade intelectual ou de comportamentos, não dando grande espaço ao que podemos referir como "sensibilidade", sendo certo que as duas moldam o comportamento humano.
Cremos que um gestor atento fará bem em levar esta crítica em linha de conta e a própria sociologia já nos alertara para o efeito que o elemento feminino tem na densificação contextual de culturas, em princípio, de baixo contexto como são as do Norte da Europa. Não entender esse aspecto e a sua assimétrica influência no interior e no exterior das empresas nos diversos ambientes culturais poderá, a um tempo, ser um erro organizacional e uma perda de oportunidade de potenciar desempenhos de maior qualidade.
Reconhece-se crescentemente que o papel feminino pode ser decisivo quando se trata de "humanizar" estruturas,
entendendo-se por isso estreitar laços de solidariedade que "nascem do coração e não só da cabeça", o que, obviamente, é ininteligível para uma cultura neutra como a que decorre do modelo liberal.
Os argumentos que têm implícito o relativismo ético assentam na convicção de que a teoria não se pode aplicar a todas as culturas porque a larga gama de condições sociais, económicas e políticas configuram valores e comportamentos diferenciados. Contudo, são compatíveis com a existência de estádios "universais" de desenvolvimento moral, dentro de cada cultura (não entramos na discussão da diferença entre "Moral" e "Ética", frequentemente usadas como sinónimos, mas fonte de discussão filosófica. Para um breve contacto com o assunto ver, por exemplo, João Evangelista, 1997).
Se um gestor de projecto internacional aceitar esta visão, deverá então perceber que terá, em primeiro lugar, que entender a cultura do local onde se quer inserir e, depois, dentro dela estudar os estádios de desenvolvimento moral individuais, de modo a poder estruturar adequadamente a organização da sua empresa, sem esperança de impor os seus critérios éticos.
Cremos que esta visão exagera na ausência de universalidade de motivações e de valores e, a ser verdade, não permitiria, por exemplo, a globalização em curso.
Isto não invalida quer a necessidade de adequação cultural do projecto aos padrões éticos locais, se tal não significar irresponsabilidade ética de quem os promove, quer a legitimidade da crítica relativista, na medida em que o Estádio 6 pode ser lido à luz de um exagerado subjectivismo que é sempre fonte de relativismo ético.
Aliás, uma última crítica acolherá implicitamente este argumento, ao considerar que a teoria de Kohlberg é incompleta,
faltando-lhe um estádio de maior aprofundamento das liberdades sociais e políticas.
Se isso significar uma selecção dos princípios universais que colha as contribuições de todos e não as imposições subjectivas de alguns, estamos definitivamente de acordo.
Tal como patentearam os comentários e observações que fomos fazendo, a aceitação destes estádios é um forte desafio ao gestor, sobretudo de projectos internacionais, na medida em que, mesmo que estes estádios sejam universais, a sua disseminação em profundidade não é nem entre culturas, nem
intra-culturas.
E, o que é mais importante, a maneira como um dado promotor ou gestor do projecto internacional aborda o problema da ética organizacional dependerá muito mais do seu estádio de desenvolvimento ético do que do daqueles a quem se dirige, pelo menos na sua fase de concepção. Garantidamente, ele não conseguirá
entender-se nem organizar, em ordem a um bom desempenho, indivíduos que estejam em estádios de desenvolvimento moral superiores ao dele, a não ser por um processo de coacção que resulte da lei ou de necessidades insuperáveis desses indivíduos, o que, como veremos adiante, não é incomum mesmo nas sociedades mais desenvolvidas.
Basta pensarmos que se a lógica dominante numa empresa nos EUA for a do Estádio 4, os indivíduos que aí trabalhem e que tenham atingido os Estádios 5 ou 6 poderão estar em constante conflito ético.
Esta situação é lapidarmente descrita por Richard Sennet (1998), numa obra que Robert Solow, do MIT, designa como "eloquente e penetrante no que toca à passagem da organização tradicional do trabalho para o chamado emprego flexível,
pedindo-nos para nos interrogarmos sobre os resultados do "emagrecimento"
[leanness] e da "obscuridade" ou "insignificância" [meanness] das organizações".
R. Sennet desenvolve a sua abordagem através de uma série de casos, um dos quais ilustra exemplarmente o modo como as condições de trabalho põem conflitos morais aos que entram nos estádios mais avançados de desenvolvimento
ético.
Referindo-se à história de um pai, Enrico, trabalhador tradicional, e de seu filho, Rico, licenciado em Gestão numa escola de Nova Iorque, escreve:
"Tal como Enrico, Rico olha para o trabalho como um serviço prestado à família. Ao contrário de Enrico, Rico acha que as exigências do seu trabalho interferem com a concretização desse objectivo (…).
A sua principal preocupação é não poder oferecer a substância da sua vida de trabalho como um exemplo de como os filhos se devem conduzir eticamente.
As qualidades do bom trabalho não são as qualidades do bom carácter."
R. Sennet encontra na alteração da estrutura organizacional as razões essenciais para este conflito ético.
Eis o seu diagnóstico:
"A gravidade deste receio resulta de um fosso que separa as gerações de Enrico e de Rico. Os líderes empresariais e os jornalistas põem ênfase no mercado global e no uso das novas tecnologias como as marcas do capitalismo contemporâneo. Embora isto tenha muito de verdade, aliena uma outra dimensão essencial da mudança: os novos modos de organizar o tempo, particularmente o tempo de trabalho.
E o mais tangível sinal dessa mudança pode ser 'Nada de longo prazo'."
Defende, depois, que este mote leva à mudança da organização do trabalho, que passa a ser mais contingente, com os empregos
(jobs) a serem substituídos por "projectos" e "áreas de trabalho".
Esta perspectiva do tempo faz naturalmente apelo ao que designa por "capital impaciente", isto é, ávido por rápido retorno, evidenciando essa avidez pelo facto de o tempo médio de detenção de acções nas Bolsas americana e inglesa ter caído 60% nos últimos 15 anos.
Em seu entender, isto significa que o mercado acredita que um rápido retorno é mais facilmente conseguido com uma mudança institucional.
Como é evidente, corrói-se qualquer sentido ético da organização do modo mais subtil possível:
ignorando-o.
As principais implicações desta "pressa" na organização são, como refere Sennet, o crescimento dos contratos de curto prazo e do trabalho episódico, com o objectivo de os tornar mais alisados e flexíveis. Rompendo com as organizações piramidais, os gestores tentam pensar as organizações como redes.
Quais as consequências sobre os indivíduos? Segundo Sennet, "nada de longo prazo" significa, pura e simplesmente, corrosão da confiança, da lealdade e do compromisso mútuo. É que a confiança precisa que o tempo a alimente, tal como todas as relações típicas da socialização.
E dá um gritante exemplo do modo como a perspectiva de curto prazo elimina radicalmente a confiança e a lealdade do indivíduo para com a empresa:
"Uma das mais duras violações do compromisso mútuo ocorre frequentemente quando as novas empresas são vendidas. Quando as empresas arrancam, é pedido a toda a gente um esforço intenso e longas horas de actividade. Quando as empresas vão para a Bolsa os fundadores estão aptos a vender as acções por bom preço, deixando os outros trabalhadores 'pendurados'."
Daí conclui que o desapego e a cooperação superficial (que considera típica do chamado trabalho de grupo, em que a duração é limitada aos projectos e a composição vai mudando) são bem melhor armadura para tratar com esta visão actual do que os comportamentos baseados em valores de lealdade e de serviço.
Daí que reafirme que esta dimensão de tempo é muito mais responsável por aquilo que afecta a vida emocional das pessoas fora dos locais de trabalho do que a alta tecnologia ou os mercados globais.
Transposta esta visão para a família, isto significa movimento permanente, nada de compromisso e nada de sacrifícios que, como é óbvio, perdem sempre qualquer significado na perspectiva de curto prazo.
E conclui esta abordagem perguntando-se:
"O conflito entre a família e o trabalho põe algumas questões acerca da própria experiência dos adultos. Como é que podem ser perseguidos objectivos de longo prazo numa sociedade cujo paradigma é o curto prazo? Como é que podem
manter-se relações sociais duráveis? Como é que pode um ser humano desenvolver uma narrativa de identidade histórica numa sociedade composta de episódios e de fragmentos?
As condições da nova economia alimentam, ao contrário, a experiência dos 'drifts' no tempo, de lugar para lugar, de emprego para emprego."
A um gestor de projecto internacional, obrigatório conhecedor deste "ambiente ético dominante",
impõem-se várias escolhas, como já salientámos atrás.
Em primeiro lugar, saber se é um "cosmopolita" ou um "local", na linguagem de Rosabeth Kanter, isto é, se se perspectiva numa lógica mundialista ou numa do seu país de origem.
No fundo, trata-se de saber se ele olha para o projecto internacional mantendo algumas lealdades ao país de origem ou se, pura e simplesmente, as ignora.
Parece claro que esta posição não é neutra do ponto de vista da concretização do projecto, nem das características organizacionais que se antevêem para a concretização do projecto. No caso de se considerar vinculado ao seu país, é normal que no projecto figurem as características organizacionais típicas do seu país, a compatibilizar com as do país hóspede, ao mesmo tempo que se maximizará a presença de pessoas do país de origem.
Ao contrário, se a visão for absolutamente cosmopolita, apenas há que adequar os interesses dominantes e específicos do projecto às condições do país hóspede, com absoluta liberdade de escolha das pessoas (provavelmente dos "recursos humanos") que melhor realizem esses objectivos.
Quanto ao modo como se olha o país hóspede, tem que se definir se se trata de explorar "recursos humanos" com a finalidade única de optimização dos interesses dos promotores do investimento.
Importa, afinal, saber se o promotor do projecto tem uma perspectiva ética do negócio, participando do desenvolvimento das pessoas e da economia do país hóspede, ou se visa tirar daí o mais possível, na posição neutra, ou mesmo antipática, que referimos atrás.
Como é óbvio, estas opções não são absolutamente livres e dependem em muito da cultura do promotor, da força da expressão cultural do seu país e das características culturais e pessoais do país hóspede.
Um gestor de um projecto internacional português, que não se mimetize no cosmopolitismo internacional, tem toda a vantagem em utilizar a abordagem cooperativa que respeita e estimula a cultura e a ética dos países hóspedes. Foi isso que fez a diferença no passado, poderá ser o que faz a diferença no presente e no futuro.
O modo como o gestor se posiciona neste campo do conflito ético potencial que o contacto intercultural pressupõe é analisado por J. Kohls e P. Buller (1994) através do que classificam como
as sete abordagens para resolver esses conflitos:
-
Ignorar: uma das partes ignora ou decide não encarar os conflitos. É uma posição que podemos designar por "enterrar a cabeça na areia", à espera que o perigo passe ou não surja.
-
Forçar: uma das partes força a outra ao seu ponto de vista, como é o caso típico da aculturação do mais "fraco" pelo mais "forte".
-
Educar-persuadir: uma das partes tenta "converter" a outra aos seus pontos de vista através da persuasão, apelo à razão ou à emoção. Sendo uma posição menos "violenta" que a anterior, continua a incorporar processos de aculturação, porventura mais "doce", porque pode haver uma manifesta assimetria de possibilidades de persuasão entre os dois lados. Isto só não acontecerá entre duas culturas com raízes de profundidade semelhante e condições económicas não demasiado dissemelhantes.
-
Infiltração: uma das partes introduz os seus valores culturais na outra sociedade esperando que se espalhem de um modo apelativo. Em nossa opinião, esta é apenas uma estratégia do tipo da anterior, talvez mais insidiosa se for feita em condições de visível assimetria.
-
Negociar-criar compromissos: ambas as partes desistem de algo para conseguir um acordo. É um tipo de jogo cooperativo natural quando há simetria de forças, mas eticamente significativo quando o aparente mais forte opta por esta estratégia.
-
Acomodar-se: uma das partes adapta-se à postura ética da outra. Se estes estádios de estratégia estão organizados em função da aceitação crescente da ética do país hóspede por parte do promotor do projecto internacional, este estádio tem um enorme potencial para o equívoco. Vai desde o louvável caminho da inculturação e do respeito pelo país que acolhe, ainda que as condições não sejam completamente favoráveis, até ao farisaísmo de aceitar condições de um país porque elas lhe são muito favoráveis, mesmo que contra os princípios éticos difundidos no país de origem, como é o caso da ausência de preocupação pela defesa ambiental ou a admissão da exploração do trabalho infantil.
-
Colaborar na resolução do problema: ambas as partes trabalham em conjunto na busca de uma solução mutuamente satisfatória, com ganhos mútuos. Esta é a visão mais extensa do jogo cooperativo e aquela que incorpora uma verdadeira inculturação. Ultrapassa a abordagem da
negociação-compromisso que inclui apenas cedências dos dois lados, uma vez que os torna solidários na procura do melhor para ambos, numa lógica que já tem alguns elementos da simpatia que referimos atrás.
Como é que o gestor se posiciona perante estas alternativas? Depende, fundamentalmente, da sua visão ética e da capacidade de discricionaridade. Depende, fundamentalmente, da sua visão ética e da capacidade de discricionaridade.
Kohls e Buller, consistentemente com a sua hipótese implícita de gradualismo ético, propõem que o gestor se fixe, em primeiro lugar, no que designam pela
centralidade de valores, que se baseia num núcleo mais universal que inclui a vida humana (no "centro dos centros"), a família, a liberdade, a segurança do trabalhador e da família.
Depois, em camadas sucessivamente exteriores, emergem outras características que vão traduzindo o que designam como
cultura consensual do país hóspede que, em sua opinião, deve ser respeitada pelo investidor estrangeiro.
Entre estas, aparecem em camadas cada vez menos "centrais" (portanto, de consenso mais difícil e mais "acessíveis" ao desrespeito pelos investidores):
-
Confiança, Paz, Honestidade e Amigos;
-
Sociedade, Segurança de Emprego, Direitos de Propriedade, Valor do Accionista;
-
Níveis de Vida, Satisfação do Consumidor, Satisfação no Trabalho e Conhecimento;
-
Estatuto (Status), Lazer, Poder e Eficiência (num nível já quase
extra-periférico).
Uma leitura atenta destas camadas mostra bem como a generalidade dos investimentos estrangeiros está longe de corresponder a esta perspectiva. Nela, os interesses dos accionistas e, sobretudo, dos gestores são secundarizados face aos valores centrais de toda a sociedade.
Perguntamo-nos, a título de exemplo, sobre se a rendabilidade (ou seja, os valores para os accionistas) e a eficiência são sempre secundarizados face à criação de condições de segurança para os trabalhadores.
Na consideração destes valores, Kolhs e Buller reconhecem que as possibilidades de influência
do gestor, que já focámos ao de leve previamente à descrição destas alternativas, são cruciais para a assunção de uma decisão, mas a sua chamada de atenção para um último factor - a
urgência - é particularmente perspicaz.
De facto, o tempo de que se dispõe para resolver este conflito limita as possibilidades de concertação, empurrando o gestor para as opções de ignorar o problema,
acomodar-se ou forçar uma solução.
De novo, R. Sennet tem razão ao mostrar que a maneira de ver o tempo é o principal sinal de corrosão do comportamento ético actual.
|
|