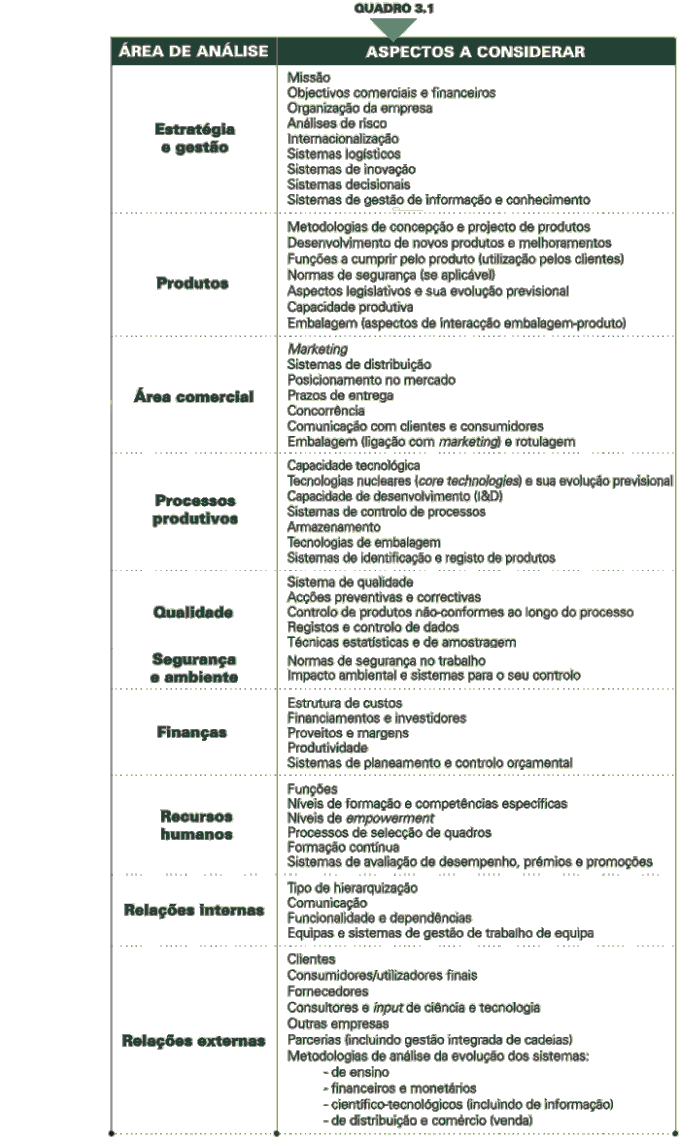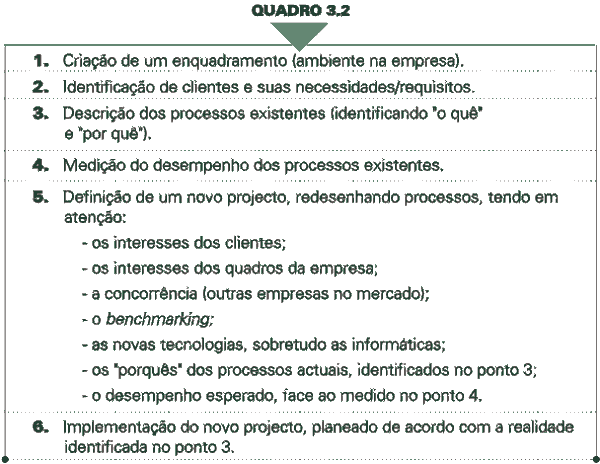|
|
O termo “reengenharia” faz lembrar um outro tipo de exercício, em voga na década de 80, que procurava essencialmente reduzir a dimensão da empresa (sobretudo em recursos humanos) através de uma reorientação de objectivos e funções e de uma reestruturação organizativa. No fundo, estava em causa concentrar a actividade da empresa, eventualmente abandonando algumas áreas, de forma a diminuir custos. A pergunta fundamental a responder era: “como fazer com menos custos o que sabemos fazer melhor?” |
|
|
|
A reengenharia de processos de que estamos a falar não visa o mesmo tipo de soluções. Admitimos que a empresa faz eficientemente aquilo que faz. A pergunta a responder é “como podemos fazer melhor aquilo que fazemos no sentido de melhorar as nossas posições no mercado?”. Logo à partida, devemos mesmo questionar se estamos a fazer o que devíamos, isto é, se os nossos produtos (bens ou serviços) estarão adequadamente direccionados ao mercado, actual ou futuro (exercício algo especulativo). |
|
Este tipo de trabalho tem uma dimensão estratégica de base evidente: como resultado, talvez revolucionemos completamente o modo de operar da empresa. No entanto, não há uma correlação directa entre a reengenharia de processos e os custos – desta reengenharia tanto pode resultar uma diminuição dos custos como um aumento. A preocupação é aumentar a eficiência e a competitividade e poderá haver investimentos envolvidos. |
Existem
duas opções possíveis em relação a um BPR |
|
· metodologia incremental; |
· metodologia radical. |
|
|
A abordagem
incremental assemelha-se a um trabalho geral de estratégia (neste caso,
utiliza-se mais frequentemente o termo BPI |
|
· elaborar um diagnóstico que permita visualizar onde estamos; |
· definir um cenário de onde queremos estar a médio/longo prazo (ou onde achamos que teremos de estar para manter ou aumentar a competitividade, face à evolução dos mercados); |
· conceber um plano de acção que nos indique como podemos ir de um lado para o outro. |
|
|
Numa abordagem radical, tentamos definir os processos da empresa a partir do zero, como se ela não existisse e tivéssemos de a construir de novo. Neste caso, só precisaríamos de um diagnóstico já depois de ter projectado de novo a empresa, para estabelecer o plano de implementação do novo “desenho”. Aliás, alguns especialistas partilham a opinião de que seria mesmo prejudicial elaborar o diagnóstico antes de o novo projecto estar definido, para minimizar a probabilidade de se seguir por caminhos mais convencionais só por estes serem mais comuns (Davenport, 1995). |
Os
processos de que estamos a falar não são apenas produtivo-tecnológicos, mas todos
os conjuntos de tarefas logicamente relacionadas que são executadas para alcançar
um determinado objectivo empresarial (alguns exemplos: desenvolvimento de um
novo produto, requisição de materiais a um fornecedor, criação de um plano
de marketing, negociação de um
contrato de vendas). Frequentemente, os processos tecnológicos são os que
acabam por sofrer menos alterações no decurso de um BPR |
|
|
|
Para melhor compreender as vantagens e inconvenientes das duas metodologias, comecemos por analisar as técnicas envolvidas nas três grandes áreas de uma abordagem incremental: diagnóstico actual, visão para o futuro, plano de acção. |
|
|
|