3.1.
A DIVERSIDADE CULTURAL E OS
DESAFIOS À GESTÃO
|
Definir cultura não é fácil, pela simples razão de que ao longo da história do pensamento foram produzidas centenas de definições, cada uma delas decorrendo de um posicionamento filosófico e social específico, moldado habitualmente pela conjuntura histórica em que nascia.
É óbvio que algumas têm um interesse específico para quem gere uma empresa, uma vez que se fundam em aspectos mais ligados às condicionantes do comportamento das pessoas e das suas associações.
É o caso, por exemplo, da definição de G. Hofstede (1984) para quem:
|
|
|
|
|

|
"cultura é a programação colectiva do espírito que distingue os membros de um grupo humano dos de outro (...) neste
sentido, a cultura inclui os sistemas de valores e estes estão entre os elementos constitutivos da cultura
."

|
|
|
|
|
Apesar de alguma circularidade nesta definição, designadamente na ligação entre cultura e valores, ela oferece uma mão cheia de pontos de partida que constituem flagrantes desafios à gestão internacional.
Em primeiro lugar, cultura é o que distingue um grupo humano de
outro. Neste sentido, a gestão internacional tem que ser uma gestão
intercultural , sobretudo se a hipótese central dessa diferença cultural for a de que grupos sociais com diferentes culturas tendem a reagir diferenciadamente perante situações semelhantes. , sobretudo se a hipótese central dessa diferença cultural for a de que grupos sociais com diferentes culturas tendem a reagir diferenciadamente perante situações semelhantes.
Nesse caso, o figurino de gestão desenhado para um grupo social pode ser inadequado para outro grupo, com a consequente falência do modelo de gestão.
Levantam-se então dois tipos de problemas:
O primeiro corresponde a uma lógica de internacionalização que poderíamos apelidar de "autónoma", configurando apenas a realização de negócios noutro espaço cultural, mas sem qualquer ponto de contacto entre os dois diferentes grupos, salvo a presença comum do agente de internacionalização.
O segundo aproxima-se bem mais da lógica da "globalização", uma vez que não mantém os dois "mercados" compartimentados, antes os miscigena de algum modo.
Enquanto o primeiro permite uma "gestão separada" das duas culturas, o segundo apela a uma mais problemática
gestão intercultural.
Em segundo lugar, uma cultura não é "neutra" e fundamenta-se num conjunto de valores que não são necessariamente inatos, mas aprendidos e transmitidos pela vivência intergeracional.
Daqui nasce a ideia de que a cultura se aprende , o que sugere a possibilidade de "um estranho, pela aprendizagem, se tornar um de nós". , o que sugere a possibilidade de "um estranho, pela aprendizagem, se tornar um de nós".
Esta presunção facilitaria o papel do gestor internacional a quem, para desempenhar bem a sua função, bastaria aprender a
"cultura " do local ou dos locais (e aqui já estamos a fazer uma nem sempre pacífica assimilação entre grupo social e localização específica).
Mas mesmo nesta perspectiva levantam-se dois níveis do problema: o do "local" da aprendizagem e o da profundidade dessa aprendizagem que, no entanto em nosso entender, não deixam de estar intimamente ligados.
Pode aprender-se uma "cultura " fora da sua vivência, ou seja, será esta "aprendizagem cultural" possível de ser descontextualizada, ou exigirá a imersão no ambiente específico que a corporiza?
Mesmo que a primeira alternativa seja viável, há que reconhecer que o segundo nível do problema, isto é, a profundidade dessa aprendizagem poderá ficar prejudicada. "Ser um de nós" significará, em nossa opinião, "viver connosco e como nós" e isso pode
aprender-se fora do contexto vivencial, mesmo que as novas potencialidades cibernéticas aumentem sensivelmente as possibilidades de informação? Mas informação é o mesmo que conhecimento vivencial?
Na busca de respostas a estas interrogações, essenciais para quem quer empreender um projecto internacional fundamentado, vale a pena regressarmos ao conceito de
cultura ,
socorrendo-nos da posição de M. Antunes na Enciclopédia Luso-Brasileira de Cultura (Verbo).
Partindo de uma posição radicada na Antiguidade Clássica, designadamente em Cícero e Homero, define
|
|
|
|
|
 
|
"cultura como a acção que o homem
realiza quer sobre o seu meio quer sobre si mesmo visando uma transformação para melhor".
|
|
|
|
|
Confrontando esta definição com a de Hofstede, verifica-se que existe implícito um problema de valor, mas todo o contexto é dinâmico e pressupõe uma acção e não um estado, isto é, a
"cultura não é", a "cultura
transforma", o que abre obviamente amplas possibilidades à aprendizagem.
Aliás, M. Antunes defende que "todas as culturas 'primitivas' e 'históricas', orais e escritas, de predomínio tecnológico ou de predomínio ideológico, participam de uma certa
unidade".
E é nesse elemento de unidade que faz radicar a acessibilidade de qualquer homem a uma
cultura diferente e, portanto, implicitamente, a possibilidade de aprendizagem.
Diz ele:
"É essa unidade fundada no homem ser uno, apesar de todas as diferenças de desenvolvimento, intelectual ou material que, as (todas as culturas) torna acessíveis a homens de outras culturas tão distantes no espaço como no tempo."
É claro que se se confundir acessibilidade com aprendizagem não será necessário o contexto vivencial, pois ele seria impossível pelo menos para os distantes no tempo. Mas se por acessibilidade se entende - e é esse o nosso entendimento - apenas a possibilidade de compreender e "contactar" essa
cultura ", está aberta a resolução do problema da comunicação intercultural, mas não o da mimetização das culturas.
|
DIVERSIDADE
CULTURAL
AMEAÇADA?
|
Independentemente da resolução deste problema, atente-se no facto de que o encontro com outra
cultura e a profundidade desse encontro é uma temática em permanente discussão. Na verdade, aprender é isso mesmo, é querer
encontrar-se com e não "impor-se a".
Diferente seria a posição de um projecto que faça tábua rasa das diferenças culturais e imponha a sua visão cultural - aqui expressa pelo figurino de gestão - a uma outra
cultura .
Em princípio, teremos o fracasso rotundo do projecto. No entanto, pode acontecer que a condição relativa de "servidão" - medida pelo fosso profundo de poder entre as duas culturas em presença - obrigue a mais fraca a aprender a outra (porque a direcção da aprendizagem é em princípio bilateral, mesmo que assimétrica) inclusivamente no espaço geográfico de raiz da sua própria
cultura .
Este é um processo forçado de "aculturação" imposta pelo mais forte e que se traduz numa ameaça potencial à extinção de culturas.
Esta questão não escapou, há mais de 30 anos e antes de se levantar o problema da globalização, ao espírito arguto de M. Antunes, que considerava que o principal problema cultural era "relativo à diversidade e unidade, como hoje se diria, à mundialidade e originalidade das culturas".
E põe, com clareza, o problema cultural que hoje todos defrontamos:
"Pela primeira vez, na evolução do género humano, se pode verdadeiramente falar de uma história universal.
Arrastará consigo essa história a implantação de uma cultura universal progressivamente destruidora da personalidade das culturas nacionais e de grupos?"
Esta pergunta premonitória arrasta-nos para a actual ligação entre a globalização em curso e os eventuais efeitos da destruição da diversidade cultural, em particular por causa da prevalência da língua inglesa que, quer se queira quer não, ameaça destruir muitas outras e com elas até a maneira de uma
cultura se expressar.
|
|
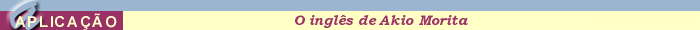
Em The Economist (9.10.1999) referia-se a
propósito da morte de Akio Morita, o grande impulsionador da Sony, que para se
internacionalizar e constituir uma empresa de expressão mundial
"ele teve de subjugar o seu tradicional
sentido de decoro, teve de aprender não só a falar inglês, mas também a
pensar inglês [o sublinhado é nosso]; teve de aprender a dizer sim ou
não, quando o peso de uma dúzia de gerações familiares o impelia para a
ambivalência".
A frase sublinhada (e não nos esqueçamos que a
revista é britânica) mostra bem que uma língua, mais que um mero veículo de
comunicação, pode ser expressão de um domínio sobre a maneira de alguém se
exprimir, isto é, da sua própria cultura .
|
|
Aliás, o domínio da língua arrasta consigo todo o peso de "indústrias culturais" ligadas a conteúdos e estes, por sua vez, acabam por ter uma influência estruturante sobre as culturas que os acolhem.
É por isso mesmo que alguns já referem a globalização como a americanização do planeta, o que se traduz tanto ao nível da vida do dia-a-dia, como do ambiente que rodeia as empresas, sem esquecer os próprios esquemas de organização interna das mesmas.
Esta ameaça não é um sentimento apenas sentido fora dos EUA. Já na Business Week (30.11.1998) Jeffrey Garten, "Dean" da Yale School of Management e ex
Sub-Secretário do Comércio para o Comércio Internacional na 1ª Administração Clinton, referia que o "imperialismo cultural" não é uma brincadeira, avisando que:
"a América deveria ser mais sensível aos receios estrangeiros de que as exportações de filmes, música, software e rádio lhes são prejudiciais".
O problema é saber se o que se passa não é mesmo uma tentativa de domínio cultural americano, estrategicamente definido.
Tenham-se em atenção, a esse propósito, alguns extractos do texto que em 8.01.1997 a Secretária de Estado Madeleine Albright apresentou à
U.S. Foreign Relations Committee, aquando da sua designação:
- "(…) as instituições americanas e os seus ideais são um modelo para todos os que já têm, ou aspiram a ter, liberdade. Nada disto é um acidente e a sua continuidade é absolutamente inevitável. O progresso democrático deve ser sustentado tal como foi construído - através da liderança americana. E esta nova liderança deve ser mantida se queremos proteger os nossos interesses em todo o mundo."
- "(…) Hoje, não é suficiente para nós dizermos que o Comunismo falhou. Devemos continuar a construir um novo enquadramento - adaptado às exigências de um novo século - que proteja os nossos cidadãos e os nossos amigos,
reforce [o sublinhado é nosso] os nossos valores e assegure o nosso futuro (…)."
- "Temos interesse na prosperidade europeia, porque a nossa própria prosperidade depende de termos parceiros abertos às nossas exportações, investimentos e
ideias [de novo, o sublinhado é nosso]."
- "Continuaremos a promover e a advogar a democracia porque sabemos que ela é parente da paz, e que a
Constituição Americana continua a ser a fonte mais revolucionária e inspiradora de mudança no mundo
[sublinhado nosso]."
Perante esta determinação, perguntamo-nos se os avisos de Jeffrey Garten não "caem em saco roto". E, no entanto, no seu já referido artigo na
Business Week ele é muito incisivo na fundamentação dos seus avisos:
"Numa altura em que muitos países, que abraçaram recentemente as ideias de Adam Smith, estão em recessão, os Departamentos de Estado e do Tesouro podiam baixar o volume da sua retórica acerca da magia do mercado livre (…)
A protecção das culturas nacionais pode, em breve, tornar-se um ponto de encontro de sociedades fustigadas pela globalização e sofrendo mudanças tumultuosas."
Os recentes acontecimentos (Dezembro de 1999) em Seattle, durante a reunião da Organização Mundial do Comércio parecem ter dado razão aos receios aqui expressos.
Estas preocupações acompanhar-nos-ão, naturalmente, na redacção de todo o manual e deverão ser um aguilhão permanentemente incómodo na descrição das visões tradicionais. É que, no fundo, se a
"cultura americana" se instalar, então deixa de fazer sentido a gestão internacional. Passa tão só a ser "gestão americana" ou, ainda mais correctamente, "gestão", já que não haverá alternativa.
|
O PAPEL DA
CULTURA NOS
DIVERSOS NÍVEIS DE
INTERNACIONALIZAÇÃO
|
Como é evidente, os desafios que a diversidade cultural (admitindo que ela é preservada) põe ao lançamento e consolidação de um projecto internacional dependem acentuadamente das características desse
projecto. 
Assim, um projecto de exportação apenas precisa ter em atenção os aspectos culturais ligados à utilização local dos bens ou serviços exportados, para além das naturais dificuldades burocráticas e regulatórias que o país de destino impõe ou não. Este mesmo conhecimento pode ser "aliviado" se estiver em jogo uma
subcontratação ou se o bem exportado em causa é uma commodity, em que o preço jogará papel essencial.
Já quanto à opção por um estabelecimento comercial no estrangeiro, o conhecimento dos hábitos de aquisição, incluindo os métodos de pagamento e financiamento locais, a localização mais apetecida, entre outros, impõe uma apreensão da realidade cultural bem mais exigente que aquela exigida pelas exportações.
É claro que tal pode ser suprido pela "delegação" desse aspecto num sócio local, cuja captação passa a ser a primeira prioridade. De algum modo, o
franchising é um processo cooperativo que visa ultrapassar esta dificuldade.
|
|
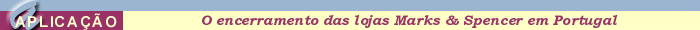
No início de Dezembro foi anunciado o encerramento das lojas Marks & Spencer em Portugal.
A empresa franquiadora, a Marks & Spencer, alega que a empresa franquiada em Portugal não estava a cumprir as suas obrigações financeiras há algum tempo, tal como não estava a satisfazer as regras mínimas de apresentação dos produtos franquiados.
A empresa franquiada defende-se com a valorização da libra e a consequente perda de competitividade dos seus produtos no mercado português.
Este exemplo parece-nos paradigmático de um franchising em que há um quase radical desligamento entre o franquiador e o franquiado, até pela absoluta diferença entre os argumentos invocados por ambos para o rompimento negocial
pré-existente.
|
|
Naturalmente, o nível mais exigente em termos de "aprendizagem cultural" é o do investimento directo no estrangeiro, qualquer que seja o modo de entrada que ele assuma.
Trata-se, agora, de produzir (e não só de vender, em ambiente cultural diferente, o que reclama já não só a cultura de consumo mas a cultura da organização produtiva e, em particular, da tipologia e das motivações do factor trabalho.
Neste caso, e ao contrário do que sucede nos níveis precedentes, tanto quanto o eventual choque cultural em termos sociais, pode aparecer o conflito organizacional em termos de
"cultura da empresa".
Até aqui o conceito de "cultura " referia-se sempre a todo um grupo social. Neste contexto do investimento directo estrangeiro surge uma noção mais restritiva, ligada em exclusivo ao ambiente empresarial e que, por isso mesmo, entra mais profundamente na organização de um tecido social potencialmente diverso.
Desde logo se põe uma primeira e inadiável questão metodológica: é possível
implantar uma cultura empresarial específica no seio de uma sociedade cuja cultura lhe é alheia?
A resposta parece ser "não", a menos que uma vez mais o poder dessa empresa seja maior que o da sociedade onde se pretende implantar, o que não está longe de suceder no caso de muitas multinacionais.
É que a resposta seria "não" se se admitisse que, mesmo com um transplante radical de uma estrutura produtiva constituída em exclusivo por "emigrantes" vindos do país de origem do investimento, estes e a sua organização se teriam que submeter às regras e práticas locais, diferentes das suas, e por isso geradoras de dificuldades de adaptação da estrutura importada ao meio circundante.
Mas todos sabemos que, para capturar esses investimentos, as sociedades hóspedes fazem frequentemente concessões que permitem que essas regras sejam derrogadas ou, pelo menos, muito atenuadas.
Não se espere, contudo, que para empresas portuguesas em processo de internacionalização seja isso que acontece em geral.
Aliás, mesmo para as empresas mais "poderosas", é praticamente inviável não terem que recorrer a pessoal local - é essa uma das razões por que as autoridades locais estão dispostas a fazer as concessões acima referidas - tendo, portanto, que defrontar hábitos locais.
Mesmo que do ponto de vista legal e regulamentar se lhes apliquem excepções, do ponto de vista cultural, manifestado pelas motivações e hábitos de trabalho, os problemas persistirão,
pondo-se a opção de adequar os métodos de gestão à idiossincrasia local, ou de forçar os trabalhadores locais a
adaptarem-se aos métodos de organização e gestão da
"empresa-mãe".
É evidente que a famosa preocupação de muitos projectos internacionais de manterem a "cultura da empresa" onde quer que ela esteja presente aponta para a segunda alternativa, a menos que da "cultura de empresa" faça parte a lógica da diversidade, isto é, da prioridade de adaptação dos seus princípios constitutivos e organizacionais às características de cada sociedade em que se instala, criando assim uma perspectiva de
empresa "multicultural".
A escolha das alternativas não é, em nosso entender, independente do modo de entrada.
Efectivamente, a opção por uma "cultura empresarial" mais monolítica privilegiará a opção pela
greenfield plant (estabelecimento novo) exclusivamente detido pela empresa (ou, pelo menos, com o seu claro predomínio estratégico) face à aquisição de uma empresa local existente, pois aí terá um problema de "digestão cultural" que se pode revelar insanável.
Do mesmo modo, a opção por uma entrada "isolada", isto é, sem parceiro local, prevalecerá face a uma
empresa-comum
(joint-venture) pois esta exigirá um encontro cultural entre os parceiros.
Aliás, esse é um modo de entrada particularmente interessante para uma empresa de cultura não monolítica, já que por esse meio consegue incorporar na sua aventura uma "aprendizagem indirecta" da cultura local, através do parceiro que
escolheu.
Recuperando aqui a visão da internacionalização como um processo de aprendizagem e de inovação, a empresa comum, mais do que um meio de partilhar riscos,
apresenta-se como um meio de aprendizagem rápido e potencialmente seguro que, contudo, só está ao alcance de quem admite adaptações às condições locais e não quer impor o seu padrão organizacional.
Manifestamente, as empresas portuguesas terão tudo a ganhar em se posicionarem nesta perspectiva, sobretudo em mercados estruturados em culturas cujos elementos essenciais não sejam bem conhecidos.
Curiosamente, as novas formas de presença internacional, embora mais diluídas, passam pela concretização de alianças empresariais que aparentemente respeitarão a diversidade multicultural, quer das sociedades, quer dos tipos de organização, desde que o processo de comunicação entre os elementos da aliança consiga
estabelecer-se em bases de confiança recíproca, alicerçado no encontro de interesses comuns.
É claro que nada disto se consegue sem uma atenção cuidada às culturas empresariais subjacentes (e só a essas), mas
ultrapassam-se muitos dos outros problemas que vimos levantando.
Essa perspectiva é relevada e louvada na Business Week (25.10.1999) no editorial "Em louvor das alianças negociais", em que se defende que elas serão o meio mais eficaz de reduzir o risco, aceder a uma
tecnologia-chave e alargar a base de clientes, no ambiente incerto e mutante da chamada "nova economia".
Elas representam uma novidade organizacional que está por digerir, diluindo a definição da fronteira da empresa, ao contrário das visões clássicas. Essa diluição, muito potenciada pela dispersão das Tecnologias de Informação, permite que os parceiros partilhem alguns objectivos sem partilhar outros, eliminando (ou apenas escondendo?) potenciais conflitos.
Será por isso que o editorial da revista considera que:
"as alianças - usadas judiciosamente - representam uma boa maneira de combinar os melhores aspectos do capitalismo ao estilo americano (…) com a mentalidade mais cooperativa do "Keisetsu" japonês e o "chaebol" da Coreia do Sul."
E reforça essa ideia adiantando que para empresas em busca de entradas em múltiplos mercados quase em simultâneo, apostar em alianças com parceiros locais é uma maneira de alisar o caminho para o seu objectivo.
Se as alianças se perfilam como alternativa credível de "crescimento" empresarial na economia globalizada, não parece claro que o problema cultural esteja ultrapassado, e muitos dos resultados já conhecidos de alianças não são particularmente animadores.
No capítulo em que abordaremos integradamente o problema dos projectos em economia globalizada teremos ocasião de ir um pouco mais ao fundo deste problema.
|
|
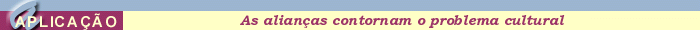
Em artigo publicado na Business Week em 25.10.1999, Joseph Weber e Amy Barret referem que as alianças parecem configurar a nova "estrutura" negocial em contexto de globalização. Com efeito, elas parecem responder à celeridade crescente da nova "era digital" que privilegia o curto prazo e a limitação de compromissos duráveis, tendo como principais virtudes a flexibilidade, a velocidade, a informabilidade, partilha de riscos e de tecnologia.
Não deixa de ser interessante que os articulistas comparem esta tendência para as alianças com a preferência por ligações amorosas em lugar do casamento.
Curiosamente, quando se enumeram as diversas vantagens das alianças face às tradicionais fusões e aquisições, o problema cultural nunca é aflorado.
E, no entanto, refere-se que alguns estudos apontam para uma elevadíssima percentagem de fracasso nas alianças e frequentemente graves pleitos jurídicos.
Não é de admitir que a alienação do elemento cultural - de que a globalização pode ser um paradigma - ajudará a explicar estes resultados?
|
CARACTERÍSTICAS
CULTURAIS
RELEVANTES PARA A
GESTÃO
|
Tendo procurado descrever os problemas que a diversidade cultural pode levantar,
impõe-se agora uma abordagem mais objectiva dos elementos que configuram uma cultura para a gestão e as fontes da sua diversidade.
Fá-lo-emos seguindo Richard Meade (1998), na sua preocupação de comparar culturas, isto é, de encontrar os elementos diferenciadores e uma potencial base comum. Escolhemos quatro abordagens que nos parecem particularmente significativas para a experiência portuguesa:
-
a de E. Hall (1976, 1983, 1987), desenvolvida, em fases sucessivas, com base na densidade do "contexto cultural";
-
a de A. Laurent (1983), que avalia o comportamento dos gestores ligando a cultura , o estatuto e a função dos gestores;
-
a de Hofstede (1980, 1984, 1991), que liga a cultura aos comportamentos no local de trabalho;
-
a de Trompenaars (1993), que põe ênfase na contribuição dos consultores.
Trata-se de um naipe de abordagens que dissecam o papel da cultura em camadas sucessivamente menos densas, desde a contextual, que é mais sincrética e incorpora praticamente todos os elementos culturais, à de Trompenaars, que já aborda de algum modo a influência cultural de alguém que pode não estar incluído no contexto a que se liga.
A abordagem contextual
Hall faz uma distinção entre culturas de elevado contexto e culturas de baixo contexto, com base na influência que o ambiente tem na percepção dos sinais emitidos pelos seus elementos e no modo como eles os comunicam.
Assim, nas culturas de elevado contexto os seus membros estão fortemente dependentes do ambiente externo, nele incluindo todos os sinais e informações não verbalizadas, mas tradutoras de uma cumplicidade que só uma partilha gerada pela proximidade e pela aprendizagem contínua explica. As culturas asiáticas são um bom exemplo deste contexto. os seus membros estão fortemente dependentes do ambiente externo, nele incluindo todos os sinais e informações não verbalizadas, mas tradutoras de uma cumplicidade que só uma partilha gerada pela proximidade e pela aprendizagem contínua explica. As culturas asiáticas são um bom exemplo deste contexto.
O que é que as caracteriza?
|
|
|
|
|
 
|
Uma teia de relações tendencialmente duradouras, um código de relacionamento eventualmente opaco a estranhos, o
estabelecimento de acordos verbais em lugar de escritos, inclusivamente com o verbal e informal a ter precedência sobre o que está escrito, e uma clara distinção entre os "de dentro" e "os de fora" que, obviamente, acarreta enormes dificuldades de miscigenação cultural.
|
|
|
|
|
Prevalece aqui a lógica de que a autoridade é responsável pelos actos dos seus subordinados, o que implica um elevado valor conferido à lealdade.
Como é evidente, este contexto apresenta características de grande coesão interna e de certo isolacionismo, o que implica um grande enraizamento social dos padrões culturais e consequente resistência às mudanças.
De novo, os países asiáticos se configuram como exemplos determinantes deste tipo de contexto.
As culturas de baixo contexto caracterizam-se por:
|
|
|
|
|

|
a influência do ambiente sobre o indivíduo é muito menos relevante e a comunicação para ser eficaz tem de assentar em informação explícita, quase descontextualizada.
Privilegia-se o estilo directo e quer-se a todo o custo evitar a ambiguidade. O que está escrito e formalizado prevalece inequivocamente sobre qualquer outra forma de
sinalização.
|
|
|
|
|
Por isso mesmo, as características são quase as opostas das de elevado contexto
cultural, com relações entre indivíduos mais frágeis e menos duráveis e menor distinção entre "quem está dentro" e "quem está fora". Logicamente, a autoridade é mais diluída através de um sistema organizacional francamente burocrático e as responsabilidades são mais formais que substantivas.
Como é evidente, os padrões culturais neste contexto são francamente mais mutáveis, até porque muito menos densos e muito menos assumidos.
Os Estados Unidos e os países escandinavos são usualmente apontados como países onde este contexto é predominante.
Apesar de assentar em elementos meramente qualitativos, este modelo tem o mérito de evidenciar as dificuldades a vencer no estabelecimento de relações entre empresas pertencentes aos dois contextos, mostrando que a gestão empresarial é de natureza muito diferente em cada um deles e que são necessárias grandes concessões culturais para um acordo de sucesso entre os dois contextos.
O caso atrás descrito de Akio Morita é, a este propósito, exemplar.
A abordagem de Laurent
Na sua investigação de comparação intercultural levada a cabo em 9 países da Europa (do Centro e Norte, apenas com a França e a Itália entre os países latinos), Laurent centrou-se em quatro parâmetros:
-
a percepção da organização do sistema político;
-
os sistemas de autoridade;
-
o desenho dos sistemas;
-
as relações hierárquicas dentro deles.
Neste modelo, profundamente empenhado no exame das atitudes face ao poder e às relações entre pessoas e instituições, a gestão é considerada como um processo através do qual os gestores expressam os seus valores culturais.
Aceitando esta definição, a lógica da gestão do projecto internacional aparece algo distante, uma vez que uma das hipóteses subjacentes à investigação é a diversidade cultural. No entanto, não deixa de ser uma informação relevante para a identificação das possibilidades de se constituir uma gestão internacional.
Os pontos em observação foram:
1. Como é que o gestor assume o seu estatuto fora do local de trabalho.
2. Qual a sua capacidade de contornar (bypass) níveis hierárquicos.
3. O gestor como perito versus o gestor como facilitador.
Relativamente ao primeiro ponto, o estatuto social do gestor era claramente mais relevante em França e na Itália que nos outros países, o que pode sugerir uma menor proximidade social entre gestores e trabalhadores nestes dois países que, por exemplo, no Norte da Europa.
Consequentemente, a expressão da autoridade do gestor sobre o seu subordinado é diferente. Nalgumas culturas, uma convivência próxima entre gestor e subordinado é natural, enquanto noutras pode ser entendida como uma falha do primeiro em assumir o estatuto que lhe é devido.
Estudos posteriores feitos para três países asiáticos (Indonésia, Japão e República Popular da China) apresentam as mesmas conclusões e constatam que, em qualquer local ou situação, "chefe é chefe".
De algum modo, pode-se admitir que em países de cultura de elevado
contexto o estatuto tende a ser mais elevado, o que frequentemente implica, é bom não esquecer, maior responsabilização.
No que toca à capacidade de contornar os níveis hierárquicos impostos para assumir qualquer responsabilidade, a Suécia, o Reino Unido e os Estados Unidos
revelam-se como os menos dispostos a considerar que tal acção seja ilegítima. Em contrapartida, a Itália
apresenta-se no extremo oposto.
Isto mostra que os trabalhadores na Suécia são capazes, perante uma situação nova, de tomar decisões que em princípio lhes poderiam não competir, enquanto um italiano ficaria normalmente a aguardar ordens do responsável hierárquico. Resulta daqui evidente a dificuldade de um trabalhador italiano no contexto de uma organização sueca ou de um trabalhador sueco no seio de uma organização italiana.
Sem surpresas, o estudo para a Ásia revela que a República Popular da China está próxima do comportamento italiano, posto que menos rígido.
De novo se põe a hipótese de uma significativa sobreposição entre culturas de elevado contexto e organizações hierárquicas primordiais.
Finalmente, no que toca à função de gestor, a Itália e os países asiáticos (e em menor grau a França) consideram que o gestor tem de ser um especialista, capaz de responder às perguntas que o subordinado lhe puser no exercício da sua função. Se não souber responder corre o risco de ser considerado incompetente e perder o estatuto.
Em contrapartida, na Suécia, Holanda e Estados Unidos, por exemplo, o gestor é visto como um facilitador, aberto até à busca de soluções no exterior para perguntas feitas no interior da organização.
As ligações por nós feitas entre contexto e tipo de gestão são aqui de novo legítimas, e os três tipos de comportamento investigado evidenciam bem cortes culturais relevantes quer entre a organização interna das empresas, quer entre as capacidades de elas se abrirem a outro tipo de organizações. Um gestor que se pretende internacional não pode ignorar estes aspectos cruciais para o desenho do seu comportamento.
As culturas nacionais e os valores no local de trabalho
O trabalho conduzido por Hofstede ao longo de vários anos tem um enfoque radicalmente diferente do anterior, pois centra-se no alargado percurso de internacionalização de uma empresa - a IBM.
A sua investigação comparou os valores ligados ao trabalho através de uma vasta gama de culturas, inquirindo 116 000 empregados em divisões e filiais da IBM em 50 países e 3 regiões (África Oriental, África Ocidental e países árabes). O grande mérito deste estudo, para além da dimensão e profundidade da amostra, é ter saído para fora das áreas geográficas tradicionais.
A sua investigação baseou-se em quatro elementos que considerou independentes entre si:
1. Distância do poder: o distanciamento entre indivíduos em diferentes níveis hierárquicos.
2. Evitar a incerteza: a maior ou menor necessidade de evitar a incerteza acerca do futuro.
3. Individualismo versus colectivismo: as relações entre um indivíduo e os seus colegas.
4. Masculino versus feminino: a divisão de papéis e valores na sociedade.
É claro que os resultados de Hofstede têm que ser encarados como preliminares e não generalizáveis, por várias razões:
-
não nos parece que estes quatro elementos sejam mesmo independentes entre si. Por exemplo, uma relação mais solidária (menos individualista) entre indivíduos permite um sentimento de
quase-partilha de riscos que torna o "evitar a incerteza" menos sensível;
-
admite-se que há homogeneidade de comportamentos no interior de cada país e região (fragilidade, aliás, também presente nos modelos anteriores), quando é certo que nalgumas delas há profundas diferenças, senão mesmo um claro dualismo;
-
a visão é profundamente sectorial, pois trata-se da experiência de uma só empresa, ainda por cima sem garantia de um "crivo comparativo" independente do local de observação, já que se admite que os próprios gestores da IBM tenham, de algum modo, moldado a estrutura empresarial aos locais e culturas em que se instalaram;
-
o próprio significado dos termos não é unívoco e depende do contexto. Em particular, o entendimento do que é "individualismo" e "colectivismo" difere em vários contextos culturais.
De qualquer modo, como já referimos, o seu trabalho é notável e dá indicações precisas sobre a orientação dos comportamentos no local de trabalho em situações culturais diversas, sendo uma contribuição inestimável para entender a gestão internacional e a necessidade das adaptações culturais.
Mas mais importante que isso é que estudos posteriores, aplicados mesmo a outras áreas do Globo como à
ex-URSS e aos países do Centro e Leste Europeus, confirmam a relevância metodológica dos elementos de Hofstede, em partilhar as dimensões individualismo/colectivismo e distância do
poder.
De entre as principais conclusões por ele alcançadas, salientamos:
-
em todas as dimensões o comportamento é muito diferenciado,
confirmando-se a ausência de correlações bilaterais entre elas, embora essa ausência seja menos evidente entre o índice de individualismo e a distância ao poder;
-
no que toca à distância ao poder, mostra-se que, enquanto nalgumas culturas as diferenças naturais, físicas e intelectuais geram grandes diferenças sociais que tendem a
perpetuar-se, noutras tenta-se reduzir essa distância ao poder e, consequentemente, diminuir as distâncias sociais;
-
quando se está menos preocupado em evitar a incerteza
é-se mais inovador, empreendedor e aberto à mudança;
-
onde prevalece o individualismo, as decisões individuais são mais valorizadas que as de grupo, de forma que o gestor procura a variedade em lugar do conformismo, mais típico do colectivismo. Em contrapartida, não há grandes ligações emocionais com a empresa. A lealdade é para com os seus interesses, isto é, uma "lealdade calculada";
-
nas culturas mais "femininas" (o Norte da Europa é exemplar neste campo), os papéis de cada pessoa são menos distintos, predominando os valores identificados com o feminino. Assim, o desempenho é medido pela natureza dos contactos humanos e não em função do poder e da posse, que suscitam menor motivação. O herói é suspeito e o
anti-herói olhado com
simpatia.

As indicações dadas, designadamente ao nível de cada país ou região, vão muito para além destas conclusões resumidas e reforçam o papel da cultura na organização da gestão empresarial.
A contribuição dos consultores
Trompenaars (1993) tem a curiosa convicção de que nunca poderemos compreender as outras culturas, o que revela, de algum modo, a oposição à ideia de que uma cultura se pode aprender. Se, como ele admite, não é possível perceber a cultura dos outros, então há que encontrar uma
interface que permita a comunicação intercultural, sem a qual qualquer projecto internacional que vá para além da exportação é impossível.
A sua abordagem é eminentemente prática e, porque defende não existir melhor maneira de resolver este problema, abre as portas ao papel do consultor como facilitador desta comunicação que, no entanto, nunca passará de translúcida porque o entendimento perfeito é impossível.
A ser verdade esta abordagem, o projecto internacional é, então, uma permanente fonte de insegurança, já que as suas bases podem ser sempre equívocas.
Pior do que isso, a busca de um projecto internacional mais seguro pode incitar à imposição de uma cultura a outra, de modo a evitar
interfaces ambivalentes e resultados imprevisíveis.
|
É A CULTURA
ESTÁTICA?
|
A discussão sobre a aprendizagem da cultura tem, de algum modo, uma visão demasiado estática.
Trata-se apenas de equacionar se uma dada cultura pode ser entendida por pessoas de outra cultura.
Mas esse problema é demasiado restritivo ao assumir, implicitamente, que cada cultura é estática. Ora já vimos nos modelos anteriores que, embora haja culturas mais abertas à mudança do que outras, todas elas são, com menor ou maior dificuldade, susceptíveis de mudar.
Põe-se então o problema da aprendizagem também em mudança e só essa simples hipótese proporciona uma outra não menos significativa: será que quem procura aprender (e portanto interagir) com uma cultura ajuda à sua modificação por introdução de elementos culturais que lhe são próprios e que também estão a mudar? Ou, de outro modo: a mútua aprendizagem cultural não será fonte de alterações culturais? E sendo, haverá tendência para uma convergência de
culturas? 
Estas perguntas são importantíssimas para os projectos internacionais, uma vez que se a convergência se vier a dar, a prazo deixarão de existir projectos internacionais, no sentido em que a lógica de uma existência radique em diferentes abordagens culturais.
Contudo, haverá um período de transição, que pode ser longo e no qual continua a fazer sentido o conceito de projecto internacional, mas é fundamental prever quais as trajectórias que levam a essa convergência, para que o projecto seja bem desenhado e nelas se insira.
É óbvio que uma precisão desse jaez não é fácil, mas não é arriscado afirmar que ela se situará entre duas situações polares: aquela em que uma cultura domina as restantes,
impondo-lhes as suas regras (ver, por exemplo, a perspectiva de Madeleine Albraight), ou uma outra, multicultural, em que a convivência leva a uma aprendizagem mútua e a um padrão final que é uma equilibrada miscelânea cultural.
As características do actual processo de globalização parecem apontar para uma situação próxima do primeiro pólo atrás descrito, tanto mais que a lógica das expectativas é
auto-alimentadora. Por outras palavras: se eu admitir que o inglês e a americanização cultural são inevitáveis, começo a
preparar-me para isso (e veja-se como, por exemplo, no campo da educação e da aprendizagem tantos já assumem esta posição) e ao
fazê-lo acelero o processo e torno-o, de facto, incontornável.
Este é, aliás, um dos desafios centrais da preservação da diversidadecultural no contexto da globalização: as culturas que estejam dispostas a reagir à tendência dominante correm o risco de, se não se conseguirem afirmar, ficar isoladas e, em termos de convergência, atrasadas face ao resto do
mundo.
Uma coisa é certa: as culturas podem mudar-se por meio da aprendizagem e do contacto com outras, mesmo que alguns autores reclamem a impossibilidade de um perfeito conhecimento mútuo.
E como se dão essas mudanças? Fundamentalmente por quatro vias:
É claro que estamos longe de pensar que estas quatro vias são independentes entre si. Por exemplo, é impensável que as mudanças tecnológicas não influenciem quer as condições económicas, quer o sistema educativo, ou que este último seja imune às influências estrangeiras.
O que importa assinalar é que cada uma destas vias pode constituir-se em fonte autónoma de mudança cultural, sem embargo de poder influenciar as restantes, elas mesmas, aliás, elementos expressivos da cultura .
A influência da intervenção estrangeira tem que ser cautelosamente avaliada. Já vimos que há culturas mais permeáveis que outras a essa influência mas, mesmo para uma dada cultura , a influência vai depender muito do tipo de intervenção. Se for uma intervenção "pela força", a sua influência tenderá a ser menor, uma vez que surge a rejeição natural ao "opressor". Em contrapartida, se ela se impuser por laços de convivência normal encontrará provavelmente terreno propício para tocar a cultura hóspede e, também, ser tocada por ela.
Apesar desta natural diferenciação, persistem sempre elementos culturais "estrangeiros" que não devem ser desprezados. As sociedades que viveram sob o colonialismo são disso provas bem vivas.
Naturalmente, há condições que apontam para uma maior influência. Uma delas é o respeito e a admiração que merece à cultura receptora "o estrangeiro" em causa. A segunda é o estabelecimento de contactos regulares entre "o estrangeiro" e grupos locais relevantes - um processo inequívoco de permeabilização cultural. E a terceira é que as tendências para a mudança implícita no "modelo estrangeiro" respondam de algum modo às sensibilidades do país receptor.
Se isto é válido para uma influência cultural a nível de uma sociedade, muito mais válido é para um projecto de internacionalização que queira ter sucesso num outro país, o que evidencia a necessidade de uma "imersão cultural" dos gestores desses projectos.
As condições económicas são decisivas na caracterização de um ambiente cultural. De um modo geral, pode-se dizer que uma sociedade pobre tende a ser mais colectivista, enquanto uma sociedade rica é, relativamente, mais individualizada.
A explicação fundamental para esta tendência reside na sensação de maior independência ou menor apreensão face ao risco que uma situação de abundância proporciona relativamente a outra de pobreza, bem traduzida na expressão: "O dinheiro não dá felicidade! Mas descontrai!".
Já a tecnologia pode ter um efeito equívoco, dependendo das condições de aprendizagem e da capacidade de absorção das sociedades. Uma sociedade dual poderá ter tendência a ver
agravar-se o fosso existente através de um desenvolvimento tecnológico demasiado sofisticado para a generalidade da população.
Em contrapartida, uma evolução tecnológica que corresponde a uma inovação marginal, capaz de ser absorvida por uma apreciável fatia da sociedade, cria condições de desenvolvimento que indiciam um contexto cultural em lenta mas equilibrada mutação. Tecnologias novas exigem organizações novas, mas a profundidade do "novo" e a sua disseminação pela sociedade poderão
traduzir-se em ruptura cultural ou aprofundamento da mesma.
Exemplos desta gradualidade, ou ausência dela, estão nas tecnologias agrícolas desenvolvidas na União Indiana
versus grandes empreendimentos industriais em países africanos (os conhecidos "elefantes brancos").
Finalmente, a educação, por certo a via mais fundamental e mais garantida para a mudança cultural. O sistema educativo constitui a base estruturante do modo como os valores culturais são disseminados pela sociedade, e a sua evolução perspectiva os potenciais deslizamentos desses valores ou até, e sobretudo, a forma como os valores mais perenes da sociedade se exprimem em contextos novos, designadamente no campo empresarial.
Particularmente relevante para esta transformação é a maneira como um dado sistema educativo acolhe as influências das culturas estrangeiras e como as endogeniza ou aliena.
Assim, as alterações curriculares podem ser culturalmente neutras ou profundamente influenciadoras desses valores culturais para as gerações futuras. Da mesma forma, o modo como se processa o acesso ao sistema educativo, em termos de sexo e de diferentes grupos sociais, determina decisivamente a evolução cultural veiculada pela educação.
Exemplos claros de influência americana na área da gestão são os MBA, cuja expansão espantosa por todo o mundo representa uma forte ameaça à expressão das culturas de gestão locais. Todavia, essa difusão não invalida que essas culturas assimilem a lógica dos MBA e os adeqúem aos seus próprios valores,
dando-lhes uma nova configuração mais rica culturalmente e, porventura, capaz de evitar o padrão homogéneo de gestão que os MBA incorporam.
|
A CONVERGÊNCIA DE
CULTURAS É
INELUTÁVEL?
|
A referência aos MBA vai no sentido de evidenciar uma lógica de convergência que pode ser dominada por uma cultura , nomeadamente no campo da gestão
empresarial.
Uma coisa é certa: nenhuma cultura está imune às influências culturais estrangeiras e muito menos com a ubiquidade que a Internet
apresenta. Aliás, nem será bom que o esteja, pois o entendimento e a aproximação das pessoas são valores inquestionáveis, desde que não correspondam a um aniquilamento de muitas culturas por submissão à dominante.
Do ponto de vista da gestão empresarial, M. Porter (1990) evidencia bem o facto de o desenvolvimento dos diversos países na fase de industrialização ter sido feito com diferentes estilos de gestão e variadas culturas empresariais.
Mas poderá essa diversidade resistir a esta era da globalização e de troca de informações e de negócios através da
Internet 
Esta pergunta arrasta consigo a profunda tensão existente entre os pensadores que defendem que a cultura deve ser crescentemente valorizada numa sociedade que se arroga "do saber" e as estruturas em que esta sociedade assenta, que incentivam a uma grande homogeneização, de forma a derrubar custos de transacção entre sistemas e a diminuir a opacidade das
interfaces.
É certo que as actuais possibilidades tecnológicas também abrem caminho à lógica das redes e das alianças a que já fizemos referência.
Põem-se, por isso, as seguintes questões:
-
A convergência, de algum modo inevitável, traduzir-se-á numa homogeneidade cultural no mundo? E como será ela construída? Pela dominância ou pela cooperação? E será esta última possível?
-
Ou, pelo contrário, a convergência será antes um encontro entre diferentes, possibilitada pelo forte investimento em interfaces de comunicação cada vez mais aperfeiçoadas, que permitam que o mundo seja um mosaico de culturas que não se desconhecem, que se apreciam, que se
inter-influenciam, mas mantêm as suas idiossincrasias no que elas têm de mais profundo?
Compreende-se que nós optemos por esta visão, mas isso não significa que ela seja a mais provável. Aliás, estamos convictos que chegar a uma ou outra depende crucialmente da expectativa que se gere e do empenho que, desde já, se ponha no traçado do caminho a alcançar.
Uma política do individualismo e dos ganhos de curto prazo aponta inexoravelmente para a primeira que, implicitamente, dá pouco valor à expressão cultural.
Uma visão de longo prazo apontará para a segunda alternativa, que surge assim como "um investimento na diferença cultural" que é preciso assumir sem ambiguidades.
Um gestor de um projecto internacional está emparedado entre estas duas alternativas e vai
dar-se conta que é, a um tempo, vítima da pressão do curto prazo e actor para a mudança no longo prazo.
A sua decisão final vai depender em muito das zonas em que o projecto se desenvolverá e das capacidades de "resistência cultural", ou seja, do valor que cada uma das sociedades envolvidas dê à sua cultura . Uma decisão assumida em função da rendabilidade monetária estrita - tantas vezes imposta a contragosto pela desenfreada concorrência mundial - leva inevitavelmente às opções pelo curto prazo e, portanto, à eliminação da diferença, pois, como sabemos dos modelos de diferenciação de produto, "produzir diferença" é mais dispendioso do que "produzir uniformidade".
|
|